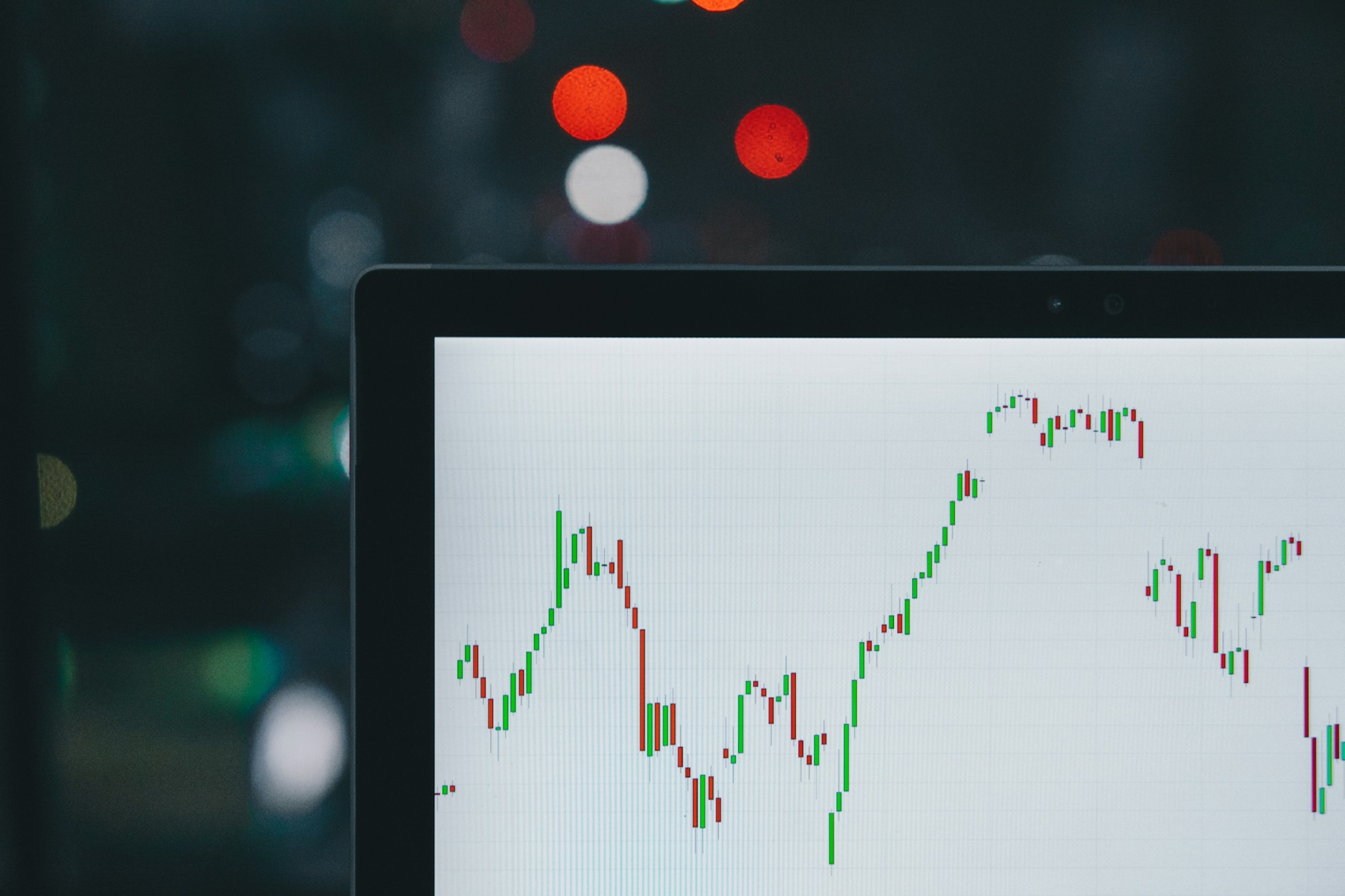Rechaçar a legalização da fraude significa, a um só tempo, proteger a arrecadação fiscal do Estado e preservar o núcleo civilizatório do Direito do Trabalho.
Gustavo Cantanhêde, Ilana Barros Coelho, João Victor Soares, Juliana Scandiuzzi, Renata Dutra e Renata Lima
Fonte: ABET
Data original da publicação: 13/10/2025
Introdução
O STF afetou o tema de Repercussão Geral nº 1389, com o seguinte enunciado: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
No julgamento, cuja relatoria está a cargo do Ministro Gilmar Mendes, tem-se a perspectiva de, a partir do leading case ARE 1532603, estabelecer-se um entendimento vinculante quanto ao fenômeno da pejotização. Mas não é só. Conforme descrição contida no sítio virtual do próprio STF, trata-se de “Recurso extraordinário que discute, à luz do entendimento consolidado na ADPF 324, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. Preliminarmente, será analisada a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas que tratam da existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços.”
A decisão a ser proferida a respeito da matéria causa preocupações na comunidade jurídica e entre os sujeitos e atores institucionais do mundo do trabalho, uma vez que, a um só tempo – e sob o manto da decisão do STF acerca da terceirização –, tem o potencial de alcançar os entendimentos sobre a validade de contratações formais que refutam a incidência da proteção laboral; sobre a prerrogativa da Justiça do Trabalho de, analisando fatos e provas, aplicar o princípio da primazia da realidade sobre a forma e coibir fraudes; sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova, em face de assimetrias e vulnerabilidades identificadas nas relações materiais de trabalho; e, ainda, sobre a amplitude da competência da Justiça do Trabalho.
Trata-se, portanto, de tema complexo, multifacetado e com grande potencial de interferência na regulação social do trabalho. A afetação é considerada problemática sobre o ponto de vista processual e material, tendo em vista a distorção que engendra na teoria dos precedentes, alargando sobremaneira o espectro de atuação da tese produzida na ADPF 324 e comprometendo a uniformização jurisprudencial com uma quantidade de questões incompatível com a maturação decorrente do leading case, bem como pela matriz teórica jurídico-político que a orienta, com forte incidência de perspectivas liberais, refratárias a intervenções jurisdicionais mínimas no sentido de coibir desígnios do mercado sobre o trabalho, de modo a tornar facultativo – e, portanto, inútil – todo o sistema de proteção trabalhista.
A partir de algumas discussões e reflexões coletivas relativas ao julgamento do tema de Repercussão Geral nº 1389 pelo STF, o grupo de pesquisa “Informais – Trabalho, interseccionalidades e direitos” (FD/UnB) vem apresentar algumas contribuições para o debate.
1. A sistemática dos precedentes e o seu desvirtuamento
A discussão sobre a pejotização ganhou novo fôlego no debate público com o reconhecimento da repercussão geral no ARE 1.532.603 (Tema 1389), em que o Plenário do STF assumiu a tarefa de definir não apenas a validade de contratos que mascaram relações de emprego, mas também a competência da Justiça do Trabalho e a questão central do ônus da prova nesses litígios. Embora o caso concreto verse sobre contratos de franquia, o relator, Ministro Gilmar Mendes, ressaltou que a tese a ser firmada deve contemplar outras formas de contratação civil ou comercial, revelando uma clara intenção de abstratização e generalização da controvérsia.
Note-se que o tema concentrou três questões jurídicas distintas: (i) a validade de contratos civis em hipóteses de pejotização; (ii) a competência da Justiça do Trabalho para apreciá-los; e (iii) a distribuição do ônus probatório.
Esse aspecto, por si só, exige reflexão a partir da doutrina dos precedentes. O precedente não é uma fórmula abstrata a ser aplicada indistintamente, mas um comando que nasce de um caso concreto e deve ser compreendido a partir da sua ratio decidendi.
A tentativa de extrair teses gerais a partir de casos singulares levanta um sério problema de adequação contextual: de um lado, força a Corte a uniformizar fenômenos distintos sob um mesmo enunciado, em detrimento da análise concreta das condições de trabalho e da incidência das normas protetivas; e, de outro, cria o risco de o precedente extrapolar sua base fática e se transformar em obstáculo hermenêutico para a Justiça do Trabalho em situações marcadas por particularidades relevantes.
Essa extrapolação não é novidade. Mesmo sem admitir a chamada transcendência dos motivos determinantes, o STF, em diversas reclamações constitucionais, tem cassado decisões da Justiça do Trabalho que reconhecem vínculos de emprego em contextos de pejotização, invocando entendimentos firmados em julgados como a ADPF 324, o Tema 725 de Repercussão Geral e a ADC 48 – ainda que esses precedentes não tenham discutido diretamente relações jurídicas pejotizadas, nem satisfaçam o requisito da aderência estrita.
Nesse ponto, convém lembrar que o precedente traz um constrangimento argumentativo adicional à obrigação de que casos semelhantes sejam decididos de maneira semelhante. No entanto, a lógica dos precedentes não se esgota na mera repetição de teses fixadas: eles podem ser (i) aplicados, (ii) superados ou (iii) distinguidos. Ignorar esses limites, próprios da noção de ratio decidendi, conduz à equivocada concepção de que o precedente implica uma deferência cega e automática à tese firmada, sem espaço para a contextualização do caso concreto.
Sob a perspectiva material, a pejotização consiste em arranjo jurídico fraudulento pelo qual o trabalhador, muitas vezes compelido pelo empregador, constitui pessoa jurídica para prestar serviços em situação que, na realidade, reúne todos os elementos da relação de emprego, mas sem a proteção normativa assegurada pela CLT. O art. 9º da CLT é categórico ao declarar nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a legislação trabalhista. A pejotização insere-se nesse campo, mas os recentes movimentos do STF apontam em sentido oposto, ao admitir que a forma contratual possa prevalecer sobre a realidade fática. Essa inversão colide frontalmente com princípios estruturantes do Direito do Trabalho, como a primazia da realidade e a indisponibilidade dos direitos trabalhistas.
Se, no plano material, a pejotização é entendida como fraude, no plano processual ela assume contornos ainda mais delicados. Isso porque a jurisprudência recente do Supremo tende não apenas a adotar uma leitura civilista das relações laborais, mas também a limitar a competência da Justiça do Trabalho, restringindo sua autonomia, e a redesenhar o regime probatório, deslocando-o em desfavor do trabalhador.
Da atuação do Supremo em matéria trabalhista surge ainda outro aspecto processual relevante: o STF não se limita a decidir o caso concreto e a questão constitucional em jogo, mas constrói teses expansivas, que projetam efeitos para além do objeto da controvérsia e reduzem o espaço para a realização de distinguishings a partir das peculiaridades de cada caso. Configura-se, assim, uma verdadeira função hegemônica do STF, caracterizada pela busca de estabilizar campos de sentido por meio de decisões com alcance quase normativo. Na esfera trabalhista, isso tem implicado um sistemático deslocamento da atividade jurisdicional da própria Justiça do Trabalho.
Ilustram essa lógica os debates sobre terceirização e responsabilidade do Estado. Na ADC 16 e no Tema 246 de Repercussão Geral, a Corte afastou a responsabilidade solidária e restringiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização, mesmo diante de reiteradas violações a direitos trabalhistas. Em pouco tempo, porém, a matéria voltou ao Plenário no Tema 1118 de Repercussão Geral, agora sob o prisma do ônus da prova. Nesse último julgamento, o STF não apenas fixou parâmetros sobre a responsabilidade dos entes públicos, como também delimitou condutas específicas a serem observadas pelas partes, atribuindo à Administração Pública deveres adicionais de fiscalização e documentação [1] – o que revela a expansão das teses para além da questão constitucional originária.
Fenômeno semelhante é observado no Tema 1232 de Repercussão Geral,(rel. Min. Dias Toffoli), o qual discute a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da fase de conhecimento. O voto do relator, que se sagrou vencedor em decisão recente propôs uma tese abrangente, que busca antecipar todas as hipóteses de redirecionamento, inclusive em situações anteriores à Reforma Trabalhista de 2017, evidenciando uma tentativa do STF de antecipar, em enunciados gerais, cenários futuros e eventuais controvérsias [2].
Esses exemplos mostram que, embora a disputa se apresente sob um viés institucional (STF versus Justiça do Trabalho), ela traduz, na verdade, conflitos de sentido acerca da proteção social do trabalho. Ao generalizar teses e ampliar o alcance de seus julgados, o Supremo corre o risco de desconsiderar a diversidade fática das relações laborais, enfraquecer a lógica protetiva do Direito do Trabalho e reforçar desigualdades estruturais.
2. Suspensão generalizada de processos no âmbito da Justiça do Trabalho
No contexto do Tema 1389, em decisão datada de 14 de abril de 2025, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos trabalhistas e cíveis que versem sobre a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para prestação de serviços, sob o argumento de se evitar decisões conflitantes antes da fixação de uma tese vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.
A medida afeta diretamente milhares de processos em tramitação na Justiça do Trabalho, gerando insegurança jurídica e dificultando o acesso efetivo dos trabalhadores à tutela jurisdicional. A paralisação dessas ações prolonga a solução de conflitos e pode resultar na negação prática de direitos fundamentais, sobretudo diante da natureza alimentar das parcelas discutidas.
De acordo com dados compilados pelo Tribunal Superior do Trabalho (2025), até agosto de 2025 havia 224.350 processos em curso que buscavam o reconhecimento da relação de emprego – precisamente aqueles atingidos pela determinação de suspensão. Em sua maioria, tais ações visam assegurar o pagamento de verbas trabalhistas de caráter essencial, como salários, depósitos de FGTS, décimo terceiro salário e férias, cuja percepção é indispensável à subsistência e à dignidade do trabalhador. A gravidade dos efeitos da suspensão, portanto, não se limita ao plano processual, mas alcança diretamente a esfera material e existencial dos sujeitos que dependem dessas verbas para sobreviver.
Sob a ótica constitucional, essa suspensão nacional tensiona o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) e o direito de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV), ao congelar indefinidamente litígios que versam sobre direitos fundamentais e de caráter alimentar, notadamente considerando-se que a amplitude da questão afetada compromete o trânsito de uma multiplicidade de lides diversas, as quais podem não se amoldar especificamente ao precedente a ser produzido, conforme analisado no item anterior.
No âmbito do processo do trabalho, a celeridade e a efetividade constituem pilares normativos (arts. 4º do CPC e 765 da CLT), justamente porque o tempo impacta o direito material: as provas se perdem, os vínculos testemunhais se desconstroem e as necessidades básicas permanecem desatendidas. Ao paralisar essas ações, transfere-se ao trabalhador o custo do tempo, invertendo a lógica protetiva que estrutura a jurisdição laboral e transformando o direito de ação em mera expectativa de tutela.
No direito internacional, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura o julgamento em prazo razoável e a tutela judicial efetiva (arts. 8.1 e 25). Do ponto de vista laboral, a Recomendação nº 198 da OIT orienta os Estados a adotarem mecanismos claros, céleres e efetivos para identificar a relação de emprego e coibir relações disfarçadas (disguised employment). A suspensão generalizada vai na contramão desse padrão, pois retarda o reconhecimento do vínculo e enfraquece a capacidade estatal de responder, em tempo útil, a arranjos contratuais que simulam autonomia para elidir proteção trabalhista.
Ademais, a suspensão destes processos implica também no esvaziamento do papel da Justiça do Trabalho: o que notamos é uma reconfiguração do papel político desta especializada, que passa a ser reduzida a um espaço de aplicação de teses fixadas pela Corte Constitucional, perdendo sua capacidade de interpretar a realidade fática do trabalho em sua materialidade concreta, conforme o princípio da primazia da realidade sobre a forma.
Em suma, a suspensão dos processos decidida pelo Ministro Gilmar Mendes ultrapassa os limites de uma medida processual e revela implicações estruturais sobre o próprio sistema de proteção ao trabalho. Ao paralisar ações que tratam de direitos de natureza alimentar e retardar o acesso à justiça, com fronteiras delimitadoras que carecem da clareza e objetividade que caracteriza a doutrina dos precedentes, a decisão compromete a efetividade das garantias constitucionais, fragiliza a competência da Justiça do Trabalho e distancia o Brasil dos compromissos internacionais assumidos.
Tecidas algumas reflexões sobre as questões processuais subjacentes à problemática do tema de Repercussão Geral nº 1389, passamos então à discussão dos seus significados materiais. Em uma reflexão sociológica e política mais aprofundada, buscamos extrair dessa controvérsia jurídica sentidos que não se apresentam na superfície do debate.
3. Liberalismo autoritário: o Direito do Trabalho como Soft law?
Primeiro, trazemos ao debate a obra A sociedade ingovernável: uma genealogia do liberalismo autoritário, de Grégoire Chamayou (2020), como forma de iluminar as vertentes político-jurídicas que constituem o pano de fundo deste julgamento.
Nela, o autor discute o conceito de liberalismo autoritário, apresentando-o como um mecanismo de despolitização da sociedade, em que os interesses do poder econômico aparecem como único fundamento da vontade política. Essa vontade soberana autonomizada dependeria da restrição do social como motivação legítima da decisão política e também da redução dos meios de pressão dos integrantes da sociedade que não têm acesso direto aos corredores do poder institucionalizado.
Chamayou indica diferentes procedimentos viabilizadores do liberalismo autoritário. Dentre eles, interessa aqui, particularmente, o enfraquecimento dos direitos sociais. Eventual afastamento da competência da Justiça do Trabalho e reconhecimento da legalidade da pejotização – uma nomenclatura cunhada como sinônimo de fraude à legislação trabalhista – pode e deve ser lida da seguinte forma: o mesmo Supremo Tribunal Federal que tem sido, concomitantemente, festejado e atacado pela condenação histórica de militares e integrantes do alto escalão por tentativa de golpe contra a Democracia brasileira, promove um ataque aos parcos alicerces de fomento de uma democracia substantiva no Brasil.
A retórica que invoca os princípios da livre iniciativa e da concorrência para legitimar arranjos contratuais diversos do contrato de trabalho previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, sob o pretexto de promover maior eficiência e competitividade, traduz, em essência, a visão de que os interesses do poder econômico seriam o único fundamento legítimo a ser considerado.
A legalização da fraude implicará em transferir exclusivamente para os agentes privados a decisão sobre o modelo de contratação trabalhista. Diante de um vasto cardápio, respaldado pelo Supremo Tribunal Federal, que amplia a autoridade do poder patronal, qual razão terá o empregador para optar pelo arranjo celetista protetivo? Quem irá escolher cumprir normas regulamentadoras sobre saúde e segurança do trabalho sem imposição estatal? Quem irá optar por seguir as disposições sobre controle de jornada de trabalho? A legislação trabalhista transforma-se em facultativa e, com isso, dentro da lógica prevalecente numa sociedade de mercado, torna-se inútil.
Recorrendo mais uma vez às formulações teóricas de Grégoire Chamayou, tem-se aqui uma impossibilidade lógica e semântica, porém real: um direito sem obrigação jurídica. Um Soft-law. Não há imposição estatal, tampouco sanção, apenas uma esperança de que as empresas atuem de maneira ética e tenham responsabilidade social. Ocorre que, se legislações como a trabalhista possuem a capacidade de proteger o interesse público, as regulamentações internas das companhias visam proteger apenas os seus próprios interesses.
Interessante observar, ainda com Chamayou, o outro lado da moeda. Soft law para os direitos da classe trabalhadora e Hard law para os direitos corporativos: “uma limitação jurídica menor (para uns) se traduz por uma coerção mais forte (para outros). Assim, é preciso sempre se perguntar para quem a soft law é ‘complacente’. Um direito trabalhista soft e exploração hard core” (2020, p. 251).
Amplia-se, nesse processo, não apenas o autoritarismo no âmbito do Estado, mas também os autoritarismos privados. O Soft law torna o mundo empresarial ingovernável, precisamente para que este possa governar mais os demais. Tornar a legislação trabalhista opcional reforça o poder do empregador e enfraquece a correlação de forças entre capital e trabalho, reduzindo a capacidade de recusa do trabalhador. Além disso, “favorece a acumulação de riquezas” e aprofunda “desigualdades, exacerbando ainda mais as oportunidades de subjugação de todas as ordens” (Chamayou, 2020, p. 392). Não nos parece pouco.
4. Riqueza pública e bens privados: os impactos da pejotização nos fundos públicos
Nelson Marconi e Marco Capraro Brancher (FGV), em Nota Técnica encomendada pela Ordem dos Advogados do Brasil – São Paulo, analisaram as repercussões da pejotização sobre a arrecadação tributária, fundiária e previdenciária. Quando a contratação deixa de ser realizada nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho e passa a ocorrer mediante a constituição de uma pessoa jurídica, a estrutura de encargos é modificada.
Além da exclusão de inúmeros direitos trabalhistas da base de cálculo, tais como horas extras e décimo terceiro salário, as alíquotas dos impostos são menores na pejotização. Na estimativa dos pesquisadores, se todos os trabalhadores por conta própria formais desde 2018 tivessem sido contratados como celetistas, o Estado brasileiro teria arrecadado 144 bilhões de reais a mais caso fossem vinculados a empresa com Lucro Real ou Lucro Presumido, ou quase 89 bilhões caso a admissão ocorresse em empresas no Simples Nacional. No mesmo período, o FGTS deixou de recolher mais de 15 bilhões de reais, acarretando impactos no financiamento de políticas de habitação, saneamento básico e mobilidade urbana.
Em um exercício de projeção da perda potencial de arrecadação na hipótese de ampliação da pejotização, Nelson Marconi e Marco Capraro Brancher indicam que, se 50% da força de trabalho com carteira assinada passasse a ser pejotizada, haveria uma perda arrecadatória de 384 bilhões de reais por ano – o que corresponde a 16,6% da arrecadação do ano de 2023.
A pejotização significa, portanto, uma expressiva perda de receita, agravando o déficit público. Se legalizar a fraude, o Supremo Tribunal Federal contratará, ao mesmo tempo, uma crise fiscal e previdenciária, comprometendo a capacidade do Estado brasileiro de promover políticas públicas.
Além disso, o enfraquecimento da coisa pública viabiliza a ampliação dos espaços de mercantilização. Em outras palavras, os bens, que antes eram públicos, são expropriados em favor do lucro dos agentes privados. Conforme nos alerta Grégoire Chamayou (2020), ao contrário do que se pode pensar à primeira vista, a riqueza pública não é composta pela somatória dos bens particulares, tampouco pelo valor total produzido na sociedade. Na realidade, as noções de riqueza pública e de valor privado são opostas, na medida em que uma só pode se expandir às custas da outra.
Na perspectiva do autor, a raridade é necessária para que um bem possa integrar a riqueza privada. Se for abundante e acessível, carece de valor apropriável para fins de lucro. Dessa maneira, para viabilizar o crescimento da riqueza privada, é preciso, de modo artificial e deliberado, destruir os bens públicos correspondentes. Torná-los rarefeitos.
Sob essa ótica, os impactos da pejotização sobre os fundos públicos têm a aptidão de contribuir com a ampliação da riqueza privada. Podemos pensar, por exemplo, nos serviços financeiros de previdência privada – que nada mais é do que um investimento bancário – e seguros. Nas palavras de Grégoire Chamayou (2020, p. 288), a produção de efeitos de rarefação favorece as “condições objetivas de um novo ciclo de mercantilização, de uma conversão mercantil da antiga riqueza em novo valor, num esquema em que, ontem como hoje, a extensão da apropriação privada tem como precondição a destruição da riqueza pública”.
5. Pejotização como desumanização do trabalho
A pejotização consiste em neologismo criado no âmbito do direito do trabalho para identificar a contratação fraudulenta que forja a contratação de uma pessoa jurídica quando, em verdade, se trata de uma contratação da força de trabalho de um sujeito individual, na condição de pessoa física. Trata-se de fraude que visa suprimir, artificialmente, o elemento da pessoalidade que é pressuposto da relação de emprego.
Pedro Nicoli e Flávia Máximo já haviam apontado que o elemento fático jurídico da pessoalidade da relação de emprego, a partir das lentes críticas do afropessimismo, teria o condão de impor à regência das relações empregatícias uma seletividade incompatível com a força de trabalho negra, uma vez que se traduziria em forma jurídica da fungibilidade que outrora caracterizara o trabalho escravizado. Nas palavras dos autores:
Ou seja, a condição de fungibilidade das negras e negros, a partir da sua constituição como não-humano, lhes torna esse recipiente aberto e mutável para desejos e poderes alheios. O corpo é comprado, vendido, alugado, trocado como mercadoria, na perspectiva econômica. Mas não só. Há uma operação de natureza libidinal, que envolve os desejos e prazeres dos não-negros, projetados sobre essas existências. E essa dimensão vem sendo solenemente desprezada pela literatura jurídica.
Mas o que isso tem que ver com a pessoalidade jurídico-trabalhista? Ela não significa justamente o contrário disso, uma infungibilidade de quem trabalha? Aí é que se abre uma fenda na dimensão operacional do conceito jurídico, quando reportado ao universo racializado das relações sociais. A pessoalidade, nos parece, dá uma nova forma jurídica nas relações de trabalho à fungibilidade negra da qual fala Hartman. E faz isso negando a fungibilidade formalmente. A relação de trabalho passa a ser vista como uma que é fundada na confiança específica em uma pessoa. Esse caráter pessoal, no caso de pessoas negras, deve ser pensado no contexto de uma propriedade de escravizados já não mais legalmente admitida. Mas que não significa a ruptura com os elementos com base nos quais, como vimos, Patterson51 define a escravidão. A infungibilidade da pessoa negra, traduzida em pessoalidade, põe-se como simulacro: é anunciada como elemento de uma relação de trabalho por não mais se admitirem juridicamente operações de compra e venda desses corpos. Mas, estruturalmente, se confunde com a reivindicação de propriedade da carne negra. Uma desumanização que também gera uma imediata descartabilidade destes corpos objetificados quando necessário.
Ou seja, as operações econômicas ganham nova forma, sem romperem materialmente com esse atributo típico de mercadoria associado ao corpo negro. A necessidade impele ao trabalho e o poder econômico das contratações e demissões operam nesse panorama estrutural. E o fluxo libidinal, de projeção de desejos, expectativas, vontades do antes senhor, agora empregador, mantém-se também estruturalmente garantido.
Por isso é que dizemos que a pessoalidade é a forma jurídica do seu contrário material para trabalhadoras e trabalhadores negros. O corpo continua fungível. Ele foi juridicamente coisa. Agora é pessoa. Mudou de lugar, sem que mudasse estruturalmente de posição social (Nicoli, Pereira,, 2020).
A abordagem teórica sofisticada dos autores sequer é convidada ao diálogo quando se trata da aspereza intelectual da afetação produzida no âmbito do STF.
No caso do Supremo, em verdade, não alcançamos uma crítica profunda sobre possíveis exclusões e significados políticos da pessoalidade, mas, sim, a admissão absoluta da forma pessoa jurídica, quando formalmente indicada, ainda que não corresponda à realidade do trabalho humano que, de fato, é contratado.
Para o STF, fazer prevalecer a forma “pessoa jurídica” sobre a forma pessoa física (ou pessoa humana?) decorreria de um respeito à “autonomia da vontade” dos vulneráveis contratados por meio de contratos de adesão porque não tem outra alternativa que não a venda da sua força de trabalho para sobreviver.
E qual a consequência jurídica disso? A força de trabalho humana contratada por tais arranjos passa a ser desumanizada, ou seja, tratada como empresa. Ao ser conduzida a essa forma jurídica, a pessoa humana que trabalha deixa de ter proteções jurídicas compatíveis com sua vulnerabilidade física, psíquica e social e passa a ser tratada como empresa, ao sabor da mercantilização de si que emana do ideário neoliberal.
Desse modo, a regulação do trabalho a ser promovida pelo STF teria natureza jurídica desumanizadora, compatível com o caráter atribuído ao trato do trabalho da população negra na escravidão, bem como às continuidades do tratamento discriminatório que esse grupo étnico acaba por receber no contexto brasileiro atual.
É importante pontuar também que os corpos negros, sobretudo de mulheres negras, são mais facilmente acessados diante da lógica da desumanização. O corpo negro, com a referência poética, ainda é considerado a carne mais barata, e a mudança das relações de trabalho perpassa também a necessária mudança de paradigma racial.
As extensas jornadas de trabalho das mulheres negras já são registradas como um grande problema para o trabalho digno, para o direito ao descanso e para a qualidade de vida. A retirada desses dados da categoria do trabalho intensifica a invisibilidade. A contagem do tempo de trabalho das mulheres negras, por exemplo, torna-se ainda mais difícil (De Jesus, 2018). Como será possível provar o tempo trabalhado se o próprio conceito de trabalho está sendo destruído? A quem serve a pejotização? Sobre quais corpos recairá essa conta?
Os subalternizados, em uma lógica constante de sub-negação de direitos e de existência, permanecerão com as marcas do regresso.
Permaneceremos como as mulas do mundo? (Collins, 2019).
Se alguém está escutando, respondemos que não.
Considerações finais
O Tema 1389 chega ao Plenário carregando um pacote heterogêneo de tópicos (validade de contratos de pejotização, competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova), numa abstratização que atenta contra a lógica protetiva do Direito do Trabalho: ao generalizar enunciados, desloca-se a ratio decidendi do caso concreto, estreitando-se o espaço do distinguishing e, consequentemente, comprimindo-se a primazia da realidade. Essa indevida condensação pelo STF confere à Corte funções quase normativas, dado o alcance da tese a ser fixada.
Somado a isso, a suspensão nacional dos processos determinada pelo Ministro Gilmar Mendes – a qual atinge centenas de milhares de ações voltadas ao reconhecimento do vínculo –, para além dos impactos processuais, traduz-se em negação material de direitos: retarda créditos de natureza alimentar e agrava vulnerabilidades sócio-econômicas.
Nesse tabuleiro, a retórica da livre iniciativa empurra a regulação social do trabalho para um “soft law trabalhista” complacente com o poder econômico – um direito sem obrigação –, enquanto as teses expansivas reforçam autoritarismos privados e desresponsabilizam quem contrata. A consequência social é mensurável: a pejotização drena fundos públicos, aprofunda déficits e abre caminho para novas mercantilizações do risco e da proteção social. Em síntese, rechaçar a legalização da fraude significa, a um só tempo, proteger a arrecadação fiscal do Estado e preservar o núcleo civilizatório do Direito do Trabalho.
Por isso, nossas conclusões apontam para o óbvio jurídico e o necessário político: afirmar a competência da Justiça do Trabalho e a distribuição dinâmica do ônus da prova; resguardar, contra formas contratuais simuladas, a centralidade da primazia da realidade; e impedir que a forma “pessoa jurídica” prevaleça sobre a pessoa que trabalha, sob pena de institucionalizar uma desumanização que recai, de modo seletivo, sobre corpos historicamente tornados fungíveis.
A afirmação do precedente, nos termos em que propostos pelo relator, pode implicar a aposição de obstáculo hermenêutico intransponível à justiça social que a ordem constitucional preconiza.
Notas de rodapé:[1] Tese fixada no Tema 1118 RG:
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”[2] Tese proposta pelo relator no Tema 1232 RG:
“1 – O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 – Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 – Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”
Referências
CHAMAYOU, Grégoire. A sociedade ingovernável: uma genealogia do liberalismo autoritário. São Paulo, Ubu, 2020.
COLLINS, Patricia Hill. Pensamento feminista negro: a interseccionalidade como teoria social crítica. Trad. de Jamille Pinheiro Dias. São Paulo: Boitempo, 2019.
JESUS, Jordana Cristina de. Trabalho doméstico não remunerado no Brasil [manuscrito] : uma análise de produção, consumo e transferência. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional.2018.
MARCONI, Nelson; BRANCHER, Marco Caprato. Nota técnica sobre os impactos da pejotização sobre a arrecadação tributária. Disponível em: https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/nota-tecnica-sobre-impactos-pejotizacao-sobre-arrecadacao-tributaria. Acesso em: 3 out. 2025.
NICOLI, P. A. G.; PEREIRA, F. S. M. Os segredos epistêmicos do direito do trabalho. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 10, p. 512-536, 2020
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Assuntos mais recorrentes. Disponível em: https://www.tst.jus.br/en/web/estatistica/jt/assuntos-mais-recorrentes#. Acesso em: 04 out. 2025