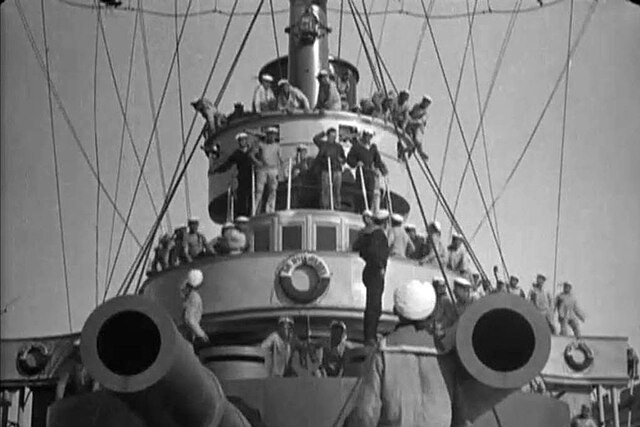Glaucia Campregher
Desde sempre aprendi a admirar os Estados Unidos da América através de seus filmes. Em pequena, mesmo quando eu via nos bang-bangs a história da matança dos índios e da corrida insana por ouro e terras, via também que os cowboys heróis não tinham lá muito ganho com isso e sim culpa e amargura. Não raro westerns nada ambiciosos mostravam heróis tristes e solitários, mesmo quando cínicos e malandros, lutando uma luta inglória contra pequenos e grandes bandidos (contratantes dos primeiros), mormente fazendeiros, comerciantes ou banqueiros que se faziam grandes pela violência, via de regra tomando conta de tudo, ou, como aprendi depois, do mercado e do Estado. Os filmes mais densos mostravam mais que histórias de amizade e respeito do cowboy solitário com orgulhosos chefes indígenas, desnudavam o genocídio imediato e o eterno confronto entre o indivíduo moderno e as comunidades tradicionais, nem um pouco “primitivas” mas nações organizadas (de sioux, navajos, cherokees, comanches, apaches e outros que eu conhecia mais que tupis e guaranis), e ainda as dificuldades de construção de novas comunidades que não sucumbissem à concentração de poder e riqueza por trás dos pseudo self made men. Ou seja, mesmo alguns banais filmes “americanos” me faziam pensar.
Mais tarde, mas ainda antes de ler Tocqueville e sua Democracia na América, antes de ler O Capital e saber que Marx muito admirava Lincoln, vi inúmeros filmes sobre a escravidão nos Estados Unidos, sobre suas guerras de independência e secessão, sobre todas as guerras que eles se meteram e/ou criaram, seus grandes cidadãos e grandes feitos nas artes, indústrias e ciências, entre histórias de amor, humor, e outras tantas. Mas o que mais me marcou foram os inúmeros filmes que vi que mostravam consciência e autocrítica dos norte-americanos sobre si. Não é isso que vemos, só pra citar alguns exemplos, em Cidadão Kane sobre a imprensa, em Nascido pra matar sobre a guerra ou Entre deus e o diabo – Elmer Gantry sobre a religião, ou em Network sobre as redes de TV? Vejam esse trecho do último que se tornou viral na net. Mas, como disse o personagem no corte acima, os Estados Unidos não são mais assim… E assim, chegamos ao tema de hoje.
Hoje, quero falar com vocês sobre um filme ambicioso, de um diretor que admiro há muitos anos e filmes, que está sendo aclamado por público e crítica e que eu, contudo, não gostei. Pior, eu o coloco no meu rol dos filmes norte-americanos que fracassaram ao tentar contar o capítulo atual da história dos Estados Unidos – o de sua decadência sócio-econômica-política e moral. Já tratei aqui de um outro filme desse rol , o Megalópoles do genial Coppola, e me recuso a tratar do pior deles, o Guerra Civil de Alex Garland que, entre mil defeitos, consegue fazer Wagner Moura parecer um canastrão. Pois então o candidato a fazer essa reflexão, rompendo o ciclo de remakes e super heróis cada vez menos heróicos, é Uma batalha após a outra de Paul Thomas Anderson. Anderson é um cineasta que sabe como poucos focar suas histórias em pessoas sem deixar processos sociais pra trás e ainda se aprofundar nas peculiaridades das personalidades (já viram Sangue Negro ou Trama Fantasma?). Mas não vi isso no filme atual. Vi personagens caricaturados, tanto quanto os processos sociais que os sustentam. (Atenção, spoilers na sequência).
Como disse o próprio diretor, o filme não é uma adaptação mas foi bastante inspirado no livro “Vineland” de Thomas Pynchon. Não li, mas, segundo a IA do Google, é um romance que mistura comédia, lirismo e sátira para mostrar os limites da cultura hippie dos anos 60/70, e como os ideais progressistas foram diluídos pela cultura pop desde então. Esse espírito me pareceu absolutamente presente no filme, e justamente aí eu me decepcionei pois o filme ganha ares de cri-cri-ticismo e a obra parece tirar sarro sem qualquer empatia com quem, ao menos um dia, foi mesmo à batalha. Verdade que ri dessa tiração de sarro, que atinge igualmente bandidos e mocinhos – como a caracterização do milico psicopata entre as ordens dos exploradores e a paixão romântica pela explorada que é vitimado ao final como as vítimas da solução final dos nazistas; ou a do assassino elegante (e incompetente) usando camiseta Lacoste e perdendo pra uma adolescente perturbada; ou das freiras treinadas pra lutar que são abatidas sem qualquer reação; ou ainda o sansei mexicano calmo e tranquilo quando o pau tá comendo solto sobre os seus (na tela como nas ruas reais da terra da liberdade). Mas não apenas os personagens dos exemplos acima são passageiros e muito mal mostrados, como o são também os personagens centrais. O sarcasmo e a ironia ficaram tão em primeiro plano, pelo visto na intenção de mostrar quão ridículos se tornaram os heróis e os bandidos do passado, que achei que foi too much…
Pensemos na mulher negra revolucionária forte e aventureira que trai a filha e a causa! Motivo suficiente pra sabermos um pouco mais dela, não?! Não… Pouco sabemos dela mesmo que existam cenas bem demoradas enfocando seu sex appeal. O pai, mesmo não tendo traído ninguém, não é lá muito útil pra defender a filha ou a causa e passa o filme inteiro de roupão de ficar em casa vendo televisão. A traição da companheira sem muita explicação e a comicidade do personagem de Dicaprio (excelente como sempre), que de ativista tocador de terror passa a pai de pijamas, chegando sempre atrasado onde quer que a ação se passe, a mim pareceu cruel. A filha não aprendeu artes marciais nem do modo fácil como em Matrix nem do modo difícil com mestre Myiagi, mas com o prof mexicano, mais amigo que lutador. Ela tão pouco lutou ou compreendeu alguma coisa da luta passada dos pais e da sua presente, parecendo ao final tudo apenas uma questão de família.
Penso que mesmo que seja justa a crítica a tudo que esse casal e sua filha possam simbolizar – o próprio espírito rebelde yankee que experimentou mil propostas de vida privada e coletiva, mil estratégias de luta política, do flower power aos Black Panthers, que lá pelas tantas deixa tudo pra trás pra se tornar uma família consumidora (e nem isso dado o despencamento da renda dos trabalhadores desde o final dos 70 pra cá) merece mesmo uma crítica pesada, mas não uma mera caricatura. A ridicularização do pai, mais que a traição da mãe e o despreparo da filha, doeram em mim. A do milico do mal usado pelo capital me preocuparam igual! E acho que se doesse em todo mundo, se prevalecesse o mal estar nos espectadores e não a curtição com um conjunto de cenas irônicas (a do truque na estrada não deixa de sê-lo) aí o filme teria sido bom. Mas não. Eu ri e muita gente também! Muita gente tem gostado pela curtição, com a zoação mesmo sobre os personagens. Porque caricaturas fazem rir… E ao ficar tudo muito caricatural a crítica fica sem chão, sem informação e sem sentimento de simpatia e empatia com quem se perdeu no caminho, e antipatia e mesmo raiva justificada contra os donos dos caminhos. Das estradas, dos exércitos, da munição e dos meios todos de comunicação.
Enfim, se é que Anderson quis mostrar ao mundo que o pior da decadência dos Estados Unidos é que os norte-americanos tornaram-se caricaturas de tudo o que foram um dia, figurantes sem importância seja na história social seja na individual, se quis mostrar que a rebeldia, mesmo armada, não produz nada, revolução alguma, pois os poderes constituídos a podem enquadrar perfeitamente, inclusive quando vinda das hordas dele próprio, ele conseguiu. Mas não deveria haver graça nisso. Seu filme não é sem pé nem cabeça como Megalópoles, nem uma sequência de batalhas sem sentido como Guerra Civil. Mas tão pouco consegue apontar minimamente para o que daria sentido às nossas batalhas para que elas não fossem apenas uma atrás da outra. Pra ganharem sentido as batalhas só precisam de duas coisas, serem coletivas e se encadearem de verdade na história. Pra rebeldia não cair no vazio, não virar camiseta de Che Guevara na vitrine, precisa se tornar revolucionária. É difícil, mas dá pra fazer. Já foi feito. E no cinema é, por óbvio, mais fácil. Alguém diz pro Anderson ir ver Bacurau.
Glaucia Campregher é professora aposentada de economia, ex-professora da UFU, UFRGS, UFBA e apaixonada por cinema.