
A operação no Rio serviu para colocar de volta a extrema direita no debate público. O tema da violência urbana, do “bandido bom é bandido morto”, vem à tona para desviar a conscientização da classe trabalhadora sobre os temas que realmente irão resolver o problema da sua precarização.
Raphael Fagundes
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil
Data original da publicação: 31/10/2025
Nos últimos meses, os temas ligados as questões trabalhistas vinham tomando conta do debate público. As discussões sobre a jornada 6×1, sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil e sobre a melhoria das condições de trabalho dos entregadores por aplicativo são temas de domínio da esquerda. Além disso, com a condenação de Bolsonaro, a traição de seu filho, Eduardo Bolsonaro, que entregou a soberania do Brasil para os Estados Unidos, e o apoio de seus parlamentares à PEC da Blindagem, a imagem da extrema direita vinha perdendo cada vez mais apelo popular.
Cabe ressaltar que os debates realizados por figuras da esquerda, como Jones Manoel, vêm ganhando grande adesão popular, principalmente nos meios digitais, trazendo a pauta da exploração capitalista para o debate público. Isso incomoda!
Os temas que favorecem a classe trabalhadora deixam a extrema direita desconfortável. Sem palavras. Seus membros estão ligados ao agronegócio, às elites religiosas e ao lobby das armas de fogo. De modo que ficam constrangidos, sem muito o que dizer quando o debate gira em torno dos direitos trabalhistas, os quais desejam enterrar.
É uma questão de formação discursiva. Para Michel Foucault, se é possível descrever que entre os enunciados e objetos escolhidos por alguém (um intelectual, um ideólogo, um magistrado etc.), “os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação discursiva”.[1] Ou seja, a base ideológica pela qual se sustenta uma ideia determinará os elementos que darão forma a sua manifestação no mundo social. De modo que, se uma pessoa é de direita, determinados elementos serão selecionados, se for de esquerda, outros elementos farão parte do enunciado. Um liberal possui uma formação discursiva, um acervo de palavras, conceitos etc., para falar sobre qualquer coisa, educação, saúde, economia etc. Assim como um marxista também dispõe de um arsenal de conceitos e ideias para falar sobre as mesmas questões.
Do mesmo modo que a formação discursiva da esquerda é capenga em produzir enunciados sobre segurança pública (mais interessada em compreender as causas, fornecendo soluções a longo prazo), a formação discursiva da direita é incompetente na produção de ideias sobre a melhoria das condições de trabalho da classe trabalhadora (preferem pôr fim a esta, colocando em todos a alcunha de empreendedores de si).
O bolsonarismo não consegue produzir discursos em defesa do trabalhador em termos econômicos, isto é, que tratam da melhoria das condições de trabalho. Seus argumentos giram em torno do moralismo. Sendo assim, sua estratégia retórica consiste em produzir um outro grupo de vítimas (que nada tem que ver com a exploração capitalista) capaz de provocar identificação e alienar a classe trabalhadora da luta de classes, espinha dorsal da sociedade.
Essa formação discursiva forja uma lista das verdadeiras vítimas do sistema, como enumerou o professor Idelber Avelar: “o policial mal remunerado que corre risco de vida contra bandido e ainda pode ser processado se matá-lo; o agricultor e proprietário rural que têm que enfrentar um emaranhado de burocracias do Estado que só servem para dar terras para índio; o jovem que ouve doutrinação marxista e feminista na escola; o dono do comércio que quer ter uma arma para se defender e não pode; o evangélico que sofre preconceito na faculdade e no trabalho por ser pentecostal; e muitos pobres comuns com medo da violência no país dos 60 mil homicídios anuais”.[2]
Desse modo, a operação no Rio serviu para colocar de volta a extrema direita no debate público. O tema da violência urbana, do “bandido bom é bandido morto”, vem à tona para desviar a conscientização da classe trabalhadora sobre os temas que realmente irão resolver o problema da sua precarização.
É como disse o sociólogo Jessé Souza, se o pobre “fosse consciente de sua opressão, então poderia transformar a raiva e o ressentimento em indignação – o que levaria para a luta política junto aos demais oprimidos”.[3] Sendo assim, é necessário manipular o debate público. E nada melhor que o espetáculo da violência. Melhor ainda quando esse espetáculo é orquestrado pelos órgãos públicos. Num sistema neoliberal, em que todos os serviços devem ser privatizados, o único serviço que caberia ao Estado é a repressão ao marginal. O Estado, portanto, só precisa ser eficiente na punição, nada mais.
O medo é agenciado para produzir falas e pronunciamentos dentro dessa formação discursiva. Contudo, como nos explica Barry Glassner, que analisou o caso estadunidense, “um dos paradoxos relativos a uma cultura do medo é que os problemas sérios continuam amplamente ignorados, ainda que causem exatamente os perigos mais abominados pela população. A pobreza, por exemplo, correlaciona-se com o molestamento de crianças, crimes e consumo de drogas. A desigualdade de renda também se associa com resultados adversos para a sociedade como um todo”.[4] Sendo assim, o medo provocado pela operação no Rio tem o objetivo de fazer com que a população ignore os problemas que realmente provocam as desgraças que povoam o seu dia a dia: a desigualdade social e a pobreza.
A violência é o caminho usado pelo neoliberalismo para administrar os pobres. Se observarmos a história das favelas do Rio de Janeiro, constataremos que “o impulso organizativo dos excluídos foi suficiente para despertar nos setores conservadores da cidade o velho temor da sedição, mais tarde traduzido no slogan ‘é necessário subir o morro antes que os comunistas desçam’”.[5]
Durante a ditadura civil-militar, líderes comunitários foram assassinados. E a introdução do tráfico de drogas serviu para desmobilizar ainda mais os excluídos, provocando um esvaziamento das organizações.[6]
O professor Adalberto Dias de Carvalho diz algo fundamental para compreendermos esse uso da violência pelo Estado: “a violência é, afinal, o cárcere da coincidência conosco ou com o outro que nos impõe, impedindo-se a revolta, o grito, a criação, a superação, a iniciativa ou, tão somente, a solicitude como gesto de encontro”.[7]
Não estamos dizendo que a segurança pública não é um tema de extrema importância e que de fato assola o cotidiano do cidadão. Mas a questão é atingir a raiz do problema e não apenas espetacularizar para, assim, chamar a atenção da população e conquistar votos.
A extrema direita estava perdendo espaço. As pautas trabalhistas estavam se tornando assunto de bar, academia e até mesmo nas igrejas. Devemos encarar a operação no Rio como o marco de uma “reação conservadora” que se apoia em um banho de sangue para que os enunciados, conceitos e falas que dominam a formação discursiva da extrema direita volte a ser tema das conversas que compõem o cotidiano da classe trabalhadora. E no fim, quem sofre com todo esse jogo perverso pelo poder é a população mais pobre.
[1] FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 43.
[2] AVELAR, I. Eles e nós. Rio de Janeiro: Record, 2021, p. 273.
[3] SOUZA, J. O pobre de direita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2024, p. 209.
[4] GLASSNER, B. Cultura do medo. São Paulo: Francis, 2003, p. 27.
[5] BURGOS, M. Dos parques proletários ao Favela-Bairro: as políticas públicas nas favelas do Rio de Janeiro. In: ZALUAR, A. e ALVITO, M. (orgs.) Um século de favela. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 29.
[6] ZALUAR, A. Crime, medo e política. In: ZALUAR, A. e ALVITO, M. (orgs.). Op. Cit., p. 215.
[7] CARVALHO, Adalberto Dias de. Da violência como anátema à educação como projeto antropológico: algumas questões e perplexidades. In: HENNING, L. e ABBUD, M. (orgs.) Violência, indisciplina e educação. Londrina: Eduel, 2010, p. 25.
Raphael Fagundes é professor




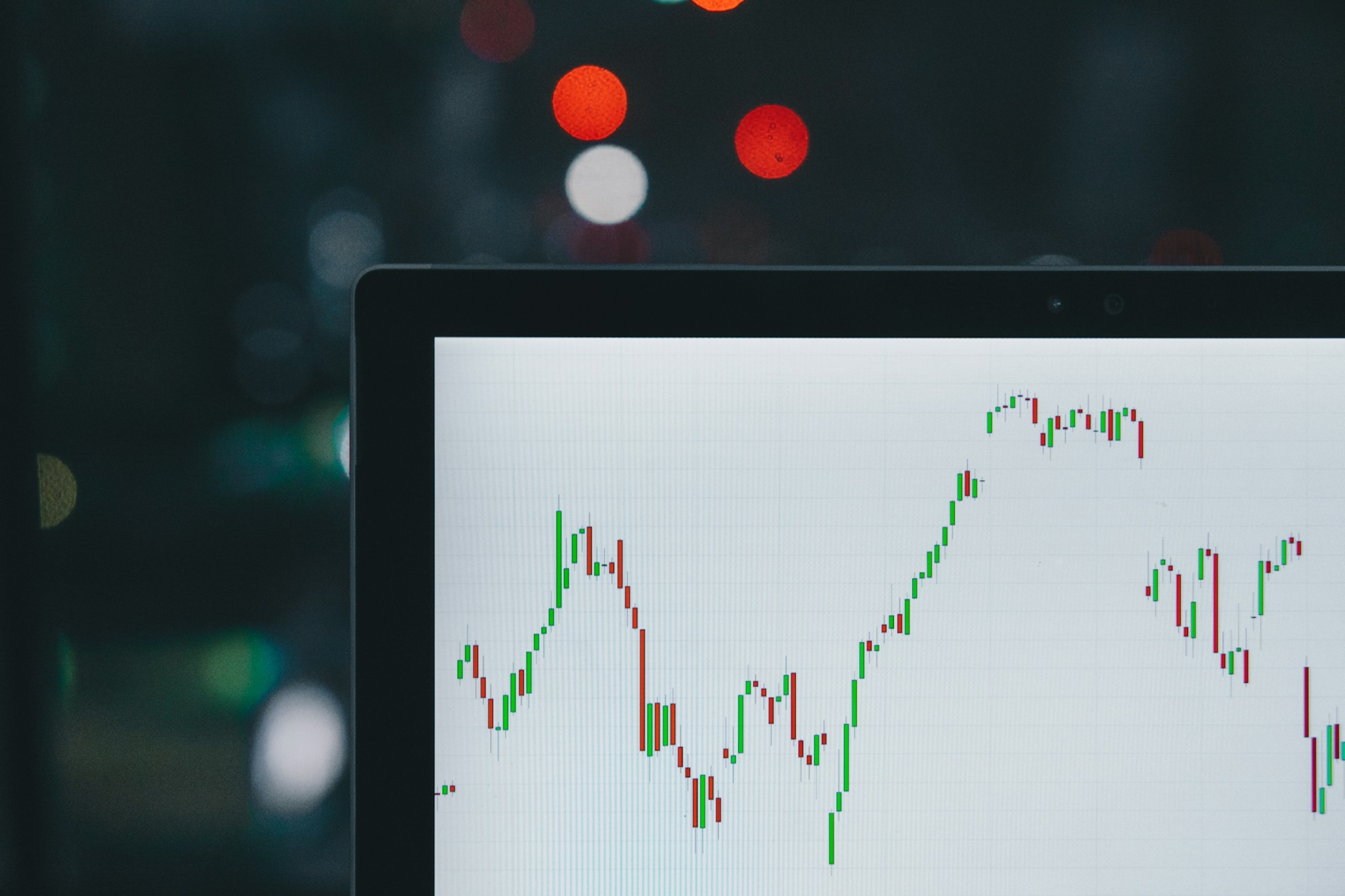
[…] https://www.dmtemdebate.com.br/operacao-no-rio-uma-chance-para-tirar-da-pauta-as-questoes-trabalhist… […]