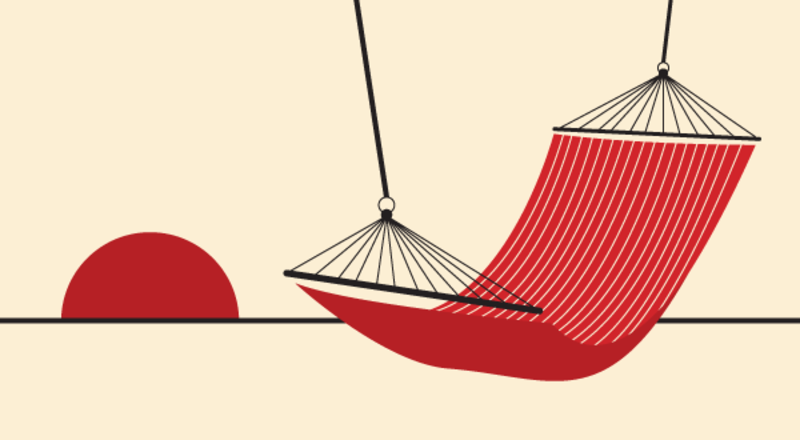
O trabalho em uma sociedade capitalista é um fenômeno conflituoso e contraditório. Uma política para a classe trabalhadora precisa ser contra o trabalho, e apelar para o prazer e o desejo, ao invés do sacrifício e da auto-negação.
Peter Frase
Fonte: Jacobin Brasil
Tradução: Everton Lourenço
Data original da publicação: 06/09/2020
O trabalho em uma sociedade capitalista é um fenômeno conflituoso e contraditório, especialmente em tempos difíceis. Nós simultaneamente não trabalhamos o bastante e trabalhamos demais; uma profunda seca de trabalho para uns significa um dilúvio para outros. Antes da pandemia, os EUA alegadamente passaram anos em “recuperação econômica” , e ainda assim milhões de pessoas não conseguiram encontrar trabalho, ou não conseguiram encontrar tanto trabalho quanto gostariam de ter encontrado. Ao mesmo tempo, até dois terços dos trabalhadores relatam em pesquisas que gostariam de trabalhar menos horas do que trabalham, mesmo se isso exigisse uma certa diminuição de renda. A dor do desemprego está bem documentada, mas a dor do empregado apenas ocasionalmente vê a luz, sejam os funcionários dos armazéns da Amazon trabalhando em um ritmo alucinado num calor sufocante, ou trabalhadores da Foxconn arriscando ferimentos e morte para construir eletrônicos descolados para a Apple.
Quando o trabalho está escasso, os horizontes políticos tendem a se estreitar, enquanto a crítica à qualidade do trabalho dá lugar à busca desesperada por qualquer tipo de emprego – e empregos, de qualquer tipo, parece ser tudo o que os políticos são capazes de oferecer; direita e esquerda diferem apenas sobre quem deveríamos culpar por essa escassez. Em 2012, por exemplo, o site da campanha de Barack Obama informava no topo da página sobre “problemas” que “o presidente está adotando medidas agressivas para colocar os estadunidenses de volta no trabalho e para criar uma economia onde o trabalho duro e a responsabilidade sejam recompensados.” Do mesmo modo, no site da federação estadunidense de sindicatos da AFLCIO, um homem de macacão sorri por trás das palavras “o trabalho conecta a todos nós.” É assim que a virtuosa classe trabalhadora aparece na imaginação progressista: esforçada, responsável, definida e redimida pelo trabalho, mas vítima de uma economia que não é capaz de criar o trabalho assalariado na qual essa responsabilidade possa ser investida.
Quando a direita rejeita esta romantização dos trabalhadores como esforçados ascetas, é apenas para mudar melhor o foco da culpa por uma economia fraca, do capital para os trabalhadores. O economista da Universidade de Chicago e eventual colaborador do New York Times, Casey Mulligan, tentou redefinir a recessão como inexistente ao insistir que o colapso de emprego refletia apenas um reduzido desejo de trabalhar, ao invés de uma escassez de demanda por trabalhadores. Enquanto isso, os reacionários mais cultos choram sobre a diminuição da ética do trabalho como um arauto do declínio da civilização. Charles Murray, que fez seu nome promovendo considerações pseudo-científicas sobre a indolência e inferioridade mental de afro-estadunidenses, passou a repercutir avisos medonhos sobre a decadência da classe trabalhadora branca. Os homens brancos, diz ele, perderam sua “industriosidade”, como seria demonstrado por taxas declinantes de participação na força de trabalho e por jornadas de trabalho mais curtas entre os empregados.
A resposta pronta progressista diz que tais estatísticas refletem uma ausência de oportunidades ao invés de uma falta de iniciativa. Mas isso leva apenas ao clamor pela criação de empregos, enfatizando o valor do “trabalho duro”, sem uma reflexão sobre a natureza desses empregos. A labuta exaustiva nos armazéns da Amazon com certeza é difícil; também o são, de certa maneira, as semanas de 80 horas e o intenso stress de um operador do Goldman Sachs. E ainda assim, do primeiro dificilmente poderia se dizer que esteja saudável ou que esteja aperfeiçoando o espírito humano, enquanto o segundo apenas cria riqueza para poucos e o caos econômico para o resto de nós. A “industriosidade” de Murray é a atitude ridicularizada pelo desobediente marxista Paul Lafargue em seu panfleto de 1883, “O Direito à Preguiça”: “uma estranha ilusão” que aflige o proletariado com “uma furiosa paixão pelo trabalho.”
Lafargue é parte de uma tradição socialista dissidente, que insiste que uma política para a classe trabalhadora precisa ser contra o trabalho. Esta é a tradição selecionada pela teórica política Kathi Weeks em seu livro The Problem With Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries (“O Problema com o Trabalho: Feminismo, Marxismo, Políticas Anti-Trabalho e Imaginário Pós-Trabalho”). Weeks identifica defensores de mais trabalho e aqueles que querem trabalhos melhores, e chama a atenção para problemas em ambas as visões. Como uma alternativa, ela sustenta a demanda direta e sem remorso por menos trabalho. No processo, ela articula de maneira poderosa a defesa de uma política que apele para o prazer e o desejo, ao invés do sacrifício e do ascetismo. Afinal, é o ideal de auto-restrição e auto-negação que em última análise legitima a glorificação do trabalho, especialmente a ideologia da ética do trabalho.
Permutações da ética do trabalho
A “furiosa paixão pelo trabalho” não é nenhuma constante da natureza humana, mas uma coisa que precisa ser constantemente reforçada, e sucessivas versões da “ética do trabalho” têm sido usadas para alimentar a fornalha dessa paixão. Na aurora do Capitalismo, o chamado ao trabalho era um chamado à salvação, como explica Weeks em sua leitura de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Max Weber. Ela reconhece que, longe de fornecer uma alternativa idealista à descrição de Marx sobre a ascensão do Capitalismo, Weber complementa o materialismo histórico, descrevendo a construção de uma ideologia da classe-trabalhadora. A palavra é usada no sentido de Althusser: “a relação imaginária de indivíduos para com as suas condições reais de existência.” A ética protestante permitiu aos trabalhadores imaginar que enquanto estavam trabalhando pelos lucros do patrão, estariam na verdade trabalhando por sua salvação e pela glória de Deus.
Lá pelo século XX, entretanto, o chamado havia se tornado material: o trabalho duro garantiria uma prosperidade de base ampla. Cada um dos projetos gêmeos de modernidade industrial desse século desenvolveram esse chamado à sua própria maneira. As autoridades soviéticas promoviam o movimento estacanovista, que glorificava contribuições excepcionais à produtividade da economia socialista. Em Detroit, enquanto isso, o líder sindical social-democrata Walter Reuther denunciava defensores de menos horas de trabalho por supostamente minarem a economia estadunidense na luta contra o comunismo. Em nenhum dos casos a qualidade do trabalho industrial era posta em questão; era apenas uma questão de quem estava no controle e quem colheria os espólios.
A ética do trabalho industrial encalhava na natureza alienante do labor industrial. Os trabalhadores que ainda se lembravam da Grande Depressão podiam estar dispostos a se subordinar à linha de montagem em troca de um pagamento garantido, mas seus filhos foram encorajados a exigir mais. Como Jefferson Cowie relembra em sua narrativa Stayin Alive: The 1970s and the Last Days of Working Class (“Se Mantendo Vivo: Os anos 70 e os Últimos Dias da Classe Trabalhadora”), os anos 70 foram caracterizados por uma agitação trabalhista amplamente difundida, e pelo que era popularmente chamado de “melancolia do colarinho azul”: os “trabalhadores estavam sendo aparelhados pelo imposto sindical, mas almejavam se libertar da natureza amortecedora do trabalho em si.” No reino da teoria de esquerda, este desenvolvimento se refletiu na voga por críticas “humanistas” ao trabalho, baseadas na teoria da alienação do jovem Marx. Weeks destaca o marxista-freudiano Erich Fromm, que defendia que “a auto-realização do homem … está inextricavelmente ligada à atividade do trabalho,” que se tornará autêntica e auto-realizadora uma vez que esteja liberta do controle capitalista. Reconhecendo as limitações na demanda por mais trabalho, os humanistas ao invés disso clamavam por um “trabalho melhor.”
Esta crítica, no entanto, se provou duplamente insatisfatória: ou ela aponta para trás, na direção de um austero primitivismo, ou para frente, rumo a outra iteração do capitalismo. Nas mãos de feministas como Maria Mies, a crítica do trabalho alienado se torna um chamado pela produção apenas para o uso imediato, ao invés da produção para a troca; isso, observa Weeks, é “uma prescrição por um ascetismo mundial de primeira ordem.” Se a forma produtivista do marxismo por tabela difundia consigo a ilusão de que as forças de produção do capitalismo poderiam ser acolhidas e preservadas independentemente das relações de produção baseadas em classes, então o chamado romântico por um retorno ao trabalho de pequena escala ou de manufatura artesanal tenta dividir outra relação dialética de Marx, aquela entre o valor de troca e o valor de uso. Mas o valor de uso, bem como a produtividade, é em última análise uma categoria interna para o capitalismo; a exigência de que o que nós produzimos seja “útil” é inseparável da ética do trabalho em si.
A linha de argumentação mais influente contra o trabalho industrial, porém, não tem sido um ascetismo, mas ao invés, aquilo que os sociólogos Luc Boltanski and Eve Chiapello chamam de “crítica artística.”Sob essa crítica, o trabalho industrial é condenado não por que separa troca e uso, mas por que ele restringe a autonomia, a liberdade e a criatividade do trabalhador. A solução não seria reconectar o trabalho a um humilde labor artesanal, mas elevar os trabalhadores à posição de indivíduos autônomos, auto-moldáveis e flexíveis, capazes de realmente se realizar em seus trabalhos.
Esta posição, no entanto, rapidamente coalhou em uma apologia do mundo precário do capitalismo pós-anos 70, onde os indivíduos eram encorajados a celebrar empregos instáveis e rendas incertas como formas de liberdade ao invés de insegurança. Benefícios intangíveis eram oferecidos como uma alternativa, ao invés de uma parcela na produtividade crescente, que se dissociou de salários. Assim chegamos a uma terceira iteração da ética do trabalho na era pós-industrial, onde o trabalho é agora representado não como um caminho para a salvação e nem como uma estrada para riquezas, mas como uma fonte de identidade e realização pessoal. Esta ética está exemplificada por empresas da moda no Vale do Silício – como a Apple, que teria dito aos seus empregados, em resposta às suas demandas salariais, que “dinheiro não deveria ser uma questão quando você estiver empregado na Apple. Trabalhar na Apple por si só já deveria ser visto como uma experiência.”
Nestas circunstâncias, argumenta Weeks, clamores por um “trabalho melhor” não são apenas inadequados: eles tendem a reproduzir e estender uma forma de capitalismo que tenta colonizar as vidas e as personalidades de seus trabalhadores. Daí que o “empoderamento do trabalhador pode impulsionar eficiência; a flexibilidade pode servir como um jeito de cortar custos; e a participação pode produzir compromisso com a organização […] a qualidade se torna quantidade enquanto o chamado por um trabalho melhor é traduzido em uma demanda por mais trabalho.” Qualquer tentativa de reconstruir o sentido do trabalho em uma forma não alienante precisa começar, então, rejeitando o trabalho por completo.
Ainda assim, a invocação cínica e manipuladora da autonomia do trabalho só é possível por que a crítica artística tocava em desejos reais. Dadas as deficiências do velho paradigma do trabalho industrial, dificilmente parece possível – ou desejável – retornar a um ideal proletário mais antigo, de emprego de longo prazo e protegido, em uma única empresa. E, ainda assim, há alguns autores ainda tentando ressuscitar a ideia de um trabalho melhor. Em O Precariado: A Nova Classe Perigosa, o economista Guy Standing identifica a nova massa de trabalhadores inseguros como um “precariado” ao invés de um proletariado, uma classe que deseja “controle sobre a vida, um renascimento da solidariedade social e uma autonomia sustentável, enquanto rejeita velhas formas trabalhistas de proteção e paternalismo estatal.”
Assim como Weeks, Standing é um proponente de uma renda básica incondicional – um pagamento regular fornecido a cada indivíduo independentemente deles trabalharem ou não e do quanto trabalhem – como uma forma de fornecer segurança de renda sem acorrentar as pessoas em empregos. Ainda assim, ele baseia seu apelo no conceito de trabalho, agora expandido para além dos limites do trabalho assalariado. “O fato de que há uma aversão aos empregos sendo oferecidos não significa que […] as pessoas não queiram trabalhar,” argumenta, por que de fato “quase todo mundo quer trabalhar.” Subsequentemente, porém, ele fala de “resgatar” o trabalho de sua associação com o trabalho assalariado: “Todas as formas de trabalho deveriam ser tratadas com igual respeito, e não deveria haver a presunção de que alguém que não esteja empregado não está trabalhando ou que alguém que não esteja trabalhando hoje seria um aproveitador ocioso.” Isso evoca a noção de uma fábrica social em que nós contribuímos com vários tipos de atividade produtiva que não são diretamente remuneradas, desde educar os filhos até codificar programas de software aberto.
Mas nenhuma série de redefinições pode escapar da associação do trabalho com a ética capitalista do produtivismo e da eficiência. O contraste entre trabalhador e “aproveitador ocioso” implica na ideia que nós poderíamos medir se qualquer atividade dada é produtiva ou útil, ao traduzí-la em uma medida comum. O capitalismo possui tal medida, o valor monetário: o que tiver valor no mercado é, por definição, algo produtivo. Se a crítica do capitalismo pretende ir além disso, ela deve ultrapassar a ideia de que nossas atividades devam ser subordinadas a uma medida de valor única. De fato, exigir que o tempo fora do trabalho seja realmente livre significa rejeitar o chamado para justificar a sua utilidade. Esta é uma sacada central do consistente anti-ascetismo de Weeks, que resiste a qualquer esforço para substituir a ética do trabalho por algum código igualmente homogeneizador que valide externamente a organização do nosso tempo. O tempo para além do trabalho não deve ser para a troca ou para o uso, mas sim para si mesmo. O ponto, como coloca Weeks, é “construir uma vida”, enquanto encontramos caminhos para “sustentar os mundos sociais necessários para, entre outras coisas, a produção.”
Questões políticas sobre a demanda
Que políticas dariam suporte a essa construção da vida? É mais fácil rejeitar a ideologia do trabalho em teoria do que criar uma estratégia política capaz de avançar com uma agenda anti-trabalho na prática. Nenhum dos lados da relação dialética de reforma-ou-revolução do socialismo do século XX é especialmente útil a respeito dessa questão. A social-democracia conseguiu liberar parcialmente os trabalhadores do trabalho, ao fornecer serviços públicos e suportes de renda que diminuem a dependência em relação ao trabalho assalariado. Ainda assim, esta desmercadificação do trabalho tem sido hesitante e receosa, graças a uma preocupação em manter o pleno-emprego e conservar os empregos. A tomada insurrecional do poder do Estado, enquanto isso, se deixa intacta a estrutura de relações capitalistas de trabalho, apenas coloca os trabalhadores a cargo de sua própria exploração – conheça seu novo chefe… é, ele parece bastante com o antigo.
Weeks tenta transcender estas limitações elaborando um conceito de demanda política que mistura impulsos reformistas e revolucionários. A demanda é vista aqui como um chamado por uma reforma específica, mas que também significa algo mais. A demanda, e a forma com que ela é articulada, pode ser uma ferramenta de desmistificação ideológica e para aquilo que Fredric Jameson chama de “mapeamento cognitivo,” traçando um gráfico das relações entre as várias esferas de produção e reprodução. Uma demanda pode ser algo em torno do que se organizar, uma forma de construir capacidade coletiva. Finalmente, uma demanda pode preparar o palco para lutas e transformações radicais no futuro, mesmo se de imediato ela não desafiar as fundações do sistema.
Este conceito de demanda evoca a ideia de André Gorz de “reforma não-reformista,” apesar de Weeks fugir da implicação de que uma demanda poderia ter implicações radicais ao mesmo tempo em que mantém a participação no terreno reformista de propostas políticas e compromissos táticos. Em um movimento que é reminiscente da ansiedade sobre exigências concretas no ambiente do Occupy Wall Street, parece às vezes que Weeks quer preservar suas credenciais radicais por meio da negação de que o sistema pudesse jamais acomodar as demandas que ela propõe.
Ainda assim, apesar de serem ambíguas, as duas demandas específicas que ela discute estão dentro do horizonte do reformismo: uma renda básica incondicional e a diminuição do tamanho da semana de trabalho. Estas são propostas bem comuns entre pessoas de esquerda com convicções anti-trabalho, mas o tratamento que Weeks dá a elas é distintivo por que ela baseia ambas as exigências nas questões políticas do feminismo. A renda básica é oferecida como um sucessor para os “salários para o serviço doméstico,” uma demanda clássica de feministas marxistas que emergiram da cena do operaísmo italiano. O objetivo, diz Weeks, é sublinhar “a arbitrariedade com que contribuições à produção social são ou não são recompensadas com salários,” tornando assim visível as enormes quantias de trabalho reprodutivo não-assalariado realizado pelas mulheres. Contra aqueles que rejeitam a renda básica como uma doação imerecida, poderíamos responder que é o capitalismo que arbitrariamente se recusa a pagar por uma proporção gigantesca do trabalho que o sustenta.
Jornadas de trabalho mais curtas também representam uma demanda inerentemente feminista. O proletário da imaginação romântica da esquerda, implicitamente tem sempre sido uma figura masculina, o trabalhador de turno-completo, que depende do trabalho reprodutivo de uma mulher no lar. Contudo, Weeks é cuidadosa ao rejeitar o clamor pela redução do tempo de trabalho com base na premissa de se arranjar mais tempo para a família. Argumentos desse tipo podem contestar a ética do trabalho, mas fazem isso apenas por meio do reforço de uma ética familiar, igualmente perniciosa. O tempo em casa acaba retratado como sendo inerentemente melhor ou menos alienante do que o tempo no espaço de trabalho, e a necessidade por tal tempo se torna naturalizada. No entanto, essa perspectiva ignora as características alienantes e opressivas da família, que levaram uma geração anterior de feministas a buscar, no trabalho assalariado, um nível relativo de liberdade e autonomia. Além disso, o ascetismo de auto-negação da ética do trabalho não é superado, mas meramente deslocado do local de trabalho para o lar. Jornadas de trabalho mais curtas, afirma Weeks, deveriam ser oferecidas não como um suporte para a família tradicional, mas como “um meio de assegurar o tempo e o espaço para forjar alternativas aos ideais, às condições de trabalho e à vida familiar vigentes.”
Trabalhadores contra o trabalho
Arejeição do trabalho tem uma rica história teórica na esquerda, mas uma presença mais intermitente na política de massas. Ela brota esporadicamente, como no movimento pelo dia de trabalho de 10 horas no século XIX ou no Agosto Quente italiano em 1969. Uma grande dificuldade é que ao abandonar a ética do trabalho, a política anti-trabalho ao mesmo tempo em que abraça a causa dos trabalhadores assalariados, ela mina sua identidade como trabalhadores assalariados, insistindo que a sua libertação deve ocasionar na simultânea abolição de sua auto-concepção como trabalhadores. Isso contrasta com a visão marxista mais tradicional, em que a classe trabalhadora primeiro se realiza na metafórica “ditadura do proletariado” antes de enfim se dissolver em uma sociedade totalmente sem classes. Mas mesmo um marxista tão ortodoxo quanto Georg Lukács observou em História e Consciência de Classe que “o proletariado apenas aperfeiçoa a si mesmo por meio da aniquilação e da transcendência de si mesmo.” Seu destino derradeiro é ser não apenas uma classe “para-si” mas “contra-si.”
Este não é um problema único à luta contra o capitalismo, e talvez seja inerente a qualquer política realmente radical. É sempre mais fácil apresentar demandas nos termos do inimigo do que rejeitar aqueles termos por completo, independente se isso significa minorias raciais exigindo assimilação em sociedades brancas ou gays e lésbicas exigindo admissão na instituição do casamento burguês. Ao pedir que os trabalhadores abandonem não só seus grilhões mas suas identidades como trabalhadores, os teóricos anti-trabalho renunciam a formas de orgulho e solidariedade da classe trabalhadora que têm sido a cola a manter unidos muitos movimentos de esquerda. Eles sonham com um movimento de trabalhadores contra o trabalho. Mas isso exige algumas novas concepções sobre quem somos e quem nos tornaremos, se pretendemos jogar fora o rótulo “trabalhador.”
Autores na tradição anti-trabalho têm frequentemente buscado estas novas identidades nas perspectivas e práticas de figuras que são marginais ao processo de produção e exteriores à classe trabalhadora. Lafargue recaiu em uma “nobre selvageria”, comparando o proletariado iludido “aos espanhóis, em quem o animal primitivo não foi de todo atrofiado,” os quais, por esse motivo, reconheciam que “o emprego é o pior tipo de escravidão.” Já para Oscar Wilde, o artista nos mostraria o futuro da vida depois da nossa libertação do trabalho e da propriedade, quando todos poderiam finalmente desenvolver um “verdadeiro, belo e saudável individualismo.” O trabalho, para ele, não era a fonte de uma vida cheia de sentido mas a sua antítese, e a promessa da modernidade era que o trabalho poderia ser superado para as multidões, assim como já fora superado para poucos:
“O fato é que a civilização precisa de escravos. Os gregos estavam absolutamente certos neste ponto. A menos que haja escravos para fazer o trabalho feio, horrível e desinteressante, a cultura e a contemplação se tornarão quase impossíveis. A escravidão humana é incorreta, desmoralizadora e não é segura. O futuro do mundo depende da escravidão mecânica, da escravidão das máquinas. E quando os homens da ciência não forem mais convocados a partirem para o deprimente East End para distribuir a gente faminta chocolate de má qualidade e cobertores de qualidade ainda pior, terão um delicioso tempo disponível para planejar coisas maravilhosas e estupendas para satisfação própria e dos demais.“
Os argumentos de Lafargue e de Wilde apresentam sobretons nietzchnianos, com a defesa do trabalho sendo retratada como uma forma de ressentimento e a ética do trabalho como uma detestável moralidade escrava. Weeks também faz esta conexão em seu capítulo final, juntando Nietzche e o iconoclasta marxista Ernst Bloch, que aparece como um teórico de política utópica. Desistir do ressentimento, sugere Weeks, significa nos perguntar, “podemos desejar, e estamos dispostos a criar um novo mundo que não seria mais o ‘nosso mundo’, uma forma social que não produziria sujeitos como nós?” Isso traz de volta a dificuldade levantada acima, no que dizia respeito à política da rejeição do trabalho: um “mandato para abraçar o presente e afirmar o seu eu e, ao mesmo tempo, desejar a sua superação; sua prescrição por auto-afirmação mas não por auto-preservação ou auto-engrandecimento.”
Em outro lugar, Weeks observa que nós não devemos subestimar o quanto da hesitação sobre posições anti-trabalho tem suas raízes no medo. Medo da ociosidade, medo do hedonismo – ou, emprestando uma expressão de Erich Fromm, medo da liberdade. É relativamente fácil dizer que no futuro serei aquilo que sou agora – um trabalhador, talvez apenas com mais dinheiro ou mais segurança no emprego ou com mais controle sobre meu trabalho. É outra coisa tentar nos imaginar como tipos completamente diferentes de pessoas. Esse, talvez, seja o valor pouco apreciado dos acampamentos do Occupy Wall Street e de tentativas similares de esculpir, nos interstícios da sociedade capitalista, formas alternativas de se viver. Como os críticos muitas vezes apontam, pode ser que eles não sejam capazes de realmente construir uma sociedade alternativa enquanto permanecerem de pé os impedimentos institucionais do capitalismo a uma tal sociedade. No entanto, talvez eles possam ajudar a remover o nosso medo sobre aquilo que poderíamos nos tornar se esses impedimentos fossem suspensos, e se nós fossemos capazes de fazer o nosso êxodo do mundo do trabalho para o mundo da liberdade.
Peter Frase está no conselho editorial de Jacobin e é autor do livro “Quatro futuro: a vida após o capitalismo”, publicado pela Autonomia Literária em 2020.

