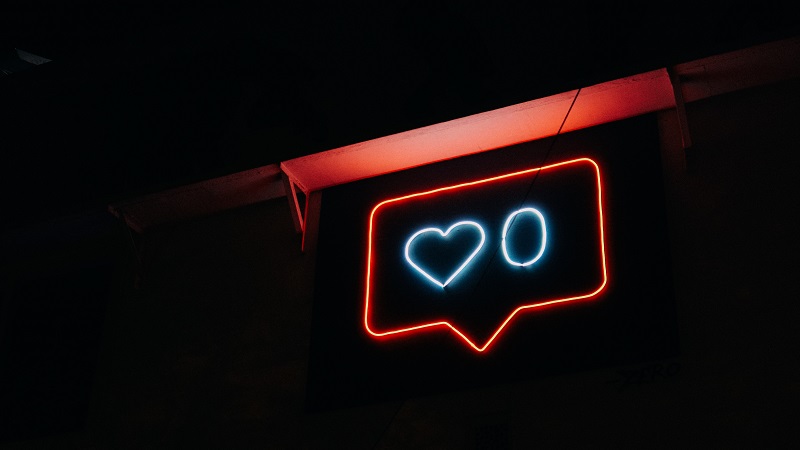
A falta de trabalho na era do coronavírus coloca os produtos culturais como os mais consumidos. Mas nem por isso o sustento daqueles que trabalharam para criá-los está garantido.
Alessandra Martins Parente
Fonte: Revista Cult
Data original da publicação: 27/05/2020
Especula-se muito sobre as características da Covid-19, sem que se chegue ainda a resultados precisos. De sintomas como a tosse seca, agravada pela pneumonia, ao derrame cerebral, a doença tornou-se o monstro que nos assombra e confina nossas vidas aos limites de nossos lares. Se nem tudo é certo nesse apavorante universo, além do único fato de que estão todos criticamente suscetíveis à morte repentina, há algo cada vez mais patente durante a pandemia: a quase nulidade do valor do trabalho de artistas e intelectuais no mundo da tecnologia algorítmica.
Desde as medidas de isolamento tomadas nos últimos meses, é possível observar um aumento exponencial do uso da internet e das mídias sociais. Compartilha-se e consome-se gratuitamente cursos de arte, literatura, filosofia, história, muitos deles de altíssima qualidade. Músicas e filmes de todos os tipos são disponibilizados em plataformas gratuitas. Sem esforço e sabendo procurar, livros podem ser baixados em diversos idiomas. Cursos de línguas brotam aos montes em áudios e filmes didáticos. Nenhum entrave econômico impede visitas a exposições ou idas a shows. Sessões gratuitas de filmes cult também estão disponíveis em diferentes sites.
O acesso irrestrito de todos à cultura e à arte é muito bem-vindo, claro. Entretanto, num mundo no qual ainda vigora o mais selvagem capitalismo, pergunto-me do que vivem exatamente esses “produtores de conteúdo” – para usar o jargão dos investidores de plantão. De ar é que não pode ser.
Mais do que nunca, parece que artistas e intelectuais carregam o traço miserável já visível na personagem Gustav von Aschenbach de Morte em Veneza (1912). É certo que a miséria do protagonista, construída pela pena de Thomas Mann, não era nem de longe de teor material. A personagem desfruta de recursos abundantes e usufrui de sua liberdade, sem que quaisquer restrições de ordem econômica a impeçam de fazê-lo. Entretanto, como uma espécie de prenúncio do que estaria por vir, a fragilidade psíquica de Aschenbach expõe a condição do intelectual ou do artista na era burguesa, antes mesmo de ela implicar sua efetiva decadência material. Como o escritor naquele contexto, obrigado a confrontar sua situação precária após todos os seus esforços sobre-humanos para levar a cabo sua atividade, muitos intelectuais e artistas – agora mais materialmente do que existencialmente – são obrigados a constatar que, na engrenagem atual, seu trabalho vale quase-nada.
A miséria de Gustav von Aschenbach
Morte em Veneza foi publicada por Thomas Mann em 1912. Gustav von Aschenbach, o protagonista, alcançou fama após seu disciplinado e extenuante esforço de conceder forma à sua arte. Seu estilo épico e seu poder estão adensados em sua capacidade lírica.
Em Teoria do romance, George Lukács definiu bem essa espécie de artista em vias de extinção: “[o poder lírico] é a personalidade do artista, ciosa de sua soberania, que faz ressoar a própria interpretação do sentido do mundo”. O artista maneja “os acontecimentos como instrumentos”, mas não é à totalidade da vida que concede forma; o que está em jogo, diz Lukács, é “a relação com essa totalidade da vida”. O artista “sobe ao palco da configuração como sujeito empírico, em toda a sua grandeza, mas também em toda a sua limitação de criatura”.
Hoje, sem o elã em torno da capacidade configuradora que se seguia ao ímpeto criador do artista ou do intelectual, pouco além de um espaço miserável no mundo resta a muitos daqueles que, de um modo ou de outro, optaram por alinhavar simbolicamente os fios da temporalidade histórica – se é que o termo “simbolicamente” ainda resguarda algum sentido.
O Iluminismo foi a época áurea de intelectuais e artistas. Desse lugar elevado ainda tiraram proveito no período do Romantismo, e os vestígios daquele brilho chegaram a atingir seres de épocas subsequentes. Ao artista ou intelectual que se mostrasse talentoso no século 19, havia a esperança de sobreviver ao incrementar conversas de nobres e burgueses. Se conseguissem entrar nos promissores círculos de influentes cidadãos e ainda passassem a visitar os salões aristocráticos, viam-se repentinamente a ocupar um eminente lugar. Objetos de moda, suas obras podiam atingir o desejo desenfreado de consumo da classe burguesa, alimentado pela ânsia vaidosa de ostentar a posse de cobiçados bens. Com mais sorte, alguns encontravam um mecenas, capaz de reconhecer o verdadeiro valor de seus trabalhos a ponto de patrocinar a atividade que a eles pudesse dar forma. Outros, menos venturosos, tinham que se virar como tutores de crianças e jovens, oriundos de famílias abastadas. Não era gritante o número de intelectuais no mercado social. Para eles, uma luz no horizonte da cátedra universitária era um alento para uma vida digna. Na academia e nas instituições de arte também havia espaço para os escolhidos dentre os comuns existentes.
Nada disso, porém, era suficiente para verdadeiramente convencer o mundo dos negócios sobre a importância do intelectual ou do artista. Um olhar condescendente sempre pareceu necessário para que seu lugar fosse garantido em meio à lógica mercantil que faz girar o círculo do capital. Nele, a cultura emerge como algo supérfluo e, por conseguinte, dispensável.
Entretanto, desde que surgiram na era burguesa, as produções artísticas e intelectuais contaram com uma noção ideológica capaz de sustentar psíquica e emocionalmente essa posição tão frágil em meio à roda mercadológica da vida capitalista: a de gênio. O gênio apareceu na era moderna pelos rigorosos punhos de Immanuel Kant, afrouxados quando tratou o tópico em sua Crítica da faculdade do juízo (1790). Sem saber bem como definir a atividade do artista, Kant apelou para uma ideia algo mística e natural. Uns dispõem de gênio, outros não. Sabe-se lá o que determina tal inclinação. De todo modo, para Kant, “a arte distingue-se […] do ofício” por ser livre. Este, inversamente a ela, seria uma atividade remunerada. Nesta breve passagem, nota-se que o preço da liberdade nas artes é trabalhar e contentar-se com a ausência de proventos. A lógica é um tanto quanto perversa, se pensarmos no lugar ocupado pela arte e pela cultura no interior da estrutura ideológica capitalista. Kant insiste que a arte só tem êxito e é bem-sucedida quando o seu fim opera como “um jogo, isto é, ocupação que é agradável por si própria”; num ofício remunerado, ao contrário, a atividade aparece “enquanto trabalho, isto é, ocupação que por si própria é desagradável (penosa) e é atraente somente por seu efeito (por exemplo, pela remuneração), que, por conseguinte, pode ser imposta coercitivamente”. Num ponto, contudo, Kant tem razão: o fim da arte não está atrelado à compra e venda que movimenta o mercado. Contudo, caberia ainda perguntar a respeito da razão pela qual isso acabaria por significar a necessária não remuneração de trabalho tão árduo.
Trata-se, por um lado, de uma visível idealização da atividade artística, tida como prazerosa e livre. Com os ganhos secundários de prazer e liberdade, justifica-se a noção de que a remuneração seria desnecessária. Aliás, ela seria até mesmo indesejável, já que haveria incompatibilidade entre ganhos monetários e os fins da arte. Em outras atividades existiria uma espécie de desprazer contínuo, compensado pelos ganhos econômicos concretos. Em suma, para Kant, se há alegria e liberdade no trabalho, não há dinheiro e, por outro lado, se há dinheiro, a atividade implica sacrifícios enfadonhos e falta de liberdade. Qual o ganho ideológico que se mantém intacto a partir desse irreal antagonismo? Deixemos de lado a resposta a essa questão e voltemos à ideia de gênio.
Foram os românticos a difundi-la até que ela fincasse raízes profundas na modernidade. Embora já tenha sido atacada à exaustão pelos críticos de arte, um secreto júbilo por reconhecer-se marcado pela insígnia do gênio nutre ainda hoje o machucado espírito do intelectual ou consola o desalentado artista. Só ela parece conceder bases que justifiquem a persistência em atividade tão pouco valorada. Aschenbach designou-a como um “apesar de”:
Aschenbach já dissera uma vez, expressamente, embora numa passagem de pouco realce, que quase tudo que existe de grandioso existe como um “apesar de”, ou seja, algo que se realizou apesar de preocupações e tormentos, apesar da pobreza, do abandono, da fragilidade física, do vício, da paixão e de mil outros obstáculos. E isso era mais que uma simples observação, era uma vivência, era justamente a fórmula de sua vida e do seu sucesso, a chave de sua obra.
Nota-se bem como o artista incorpora em sua personalidade o lugar circunscrito à arte e à cultura na ideologia que se articula em torno da economia burguesa. O narrador de Morte em Veneza descreve o seu protagonista como o “novo tipo de herói que, sob diversas personificações individuais, era uma constante em sua obra”. Estamos na primeira década do século 20. A ideia de gênio criador, que se estabelece nos derradeiros anos do século 18, ainda vigora. Contudo, aprofunda-se a miséria material e existencial vinculada a esse “novo tipo de herói”. O consolo estava no fato de que esses seres “se reconheciam na sua obra; nela se encontravam justificados, poeticamente enaltecidos e, cheios de gratidão, difundiam seu nome”. Gustav von Aschenbach era daqueles que “trabalham à beira da exaustão, dos que carregam um fardo superior a suas forças e, mesmo esgotados, se mantêm ainda de pé, de todos esses moralistas que têm por máxima o dever de produzir e que, de porte franzino e dispondo de meios precários, à custa de prodígios de vontade e hábil organização, conseguem obter, ao menos por algum tempo, efeitos de grandeza”. “Há muitos deles”, declara o narrador, “são os heróis dessa época”.
A miséria existencial do protagonista, em sua condição de escritor, fica apenas aludida no título de uma de suas famosas obras: Um miserável. O caráter lastimável de sua existência como artista só será assumido e se cumprirá em sua totalidade nas escolhas feitas em idade madura. À semelhança do artista, Veneza parece fulgurante e luminosa, mas está empesteada e repleta de impulsos mortíferos. Assumido de forma singular, o impulso de Aschenbach ganha forma na entrega total à lascívia de um amor que o levaria à morte. Quando se deixa conduzir por essa espécie de ímpeto que abraça o fim, o escritor lembra-se de seus antepassados:
[…] enredado numa experiência tão ilícita, envolvido em extravagâncias sentimentais tão exóticas; pensava na severidade imponente e na decorosa virilidade que marcaram a conduta desses homens, e sorria melancólico. O que diriam eles? Mas na verdade o que teriam dito de toda a sua vida, desta vida a serviço da arte, sobre a qual ele mesmo, outrora, com a mentalidade burguesa dos pais, emitira opiniões pueris tão sarcásticas e que, no fundo, contudo, era uma vida tão semelhante à deles! Ele também servira, também fora soldado e guerreiro como muitos deles — pois a arte era uma guerra, um combate exaustivo, que na época atual não se podia suportar por muito tempo. Uma vida de autodomínio e obstinação, uma vida áspera, perseverante e comedida, que ele transformara em símbolo de um heroísmo delicado e apropriado à época.
Cada fragmento dessa passagem revela a falsidade das ideias kantianas, anteriormente expostas. Nem por isso suas noções sobre arte e gênio deixaram de ser lentamente absorvidas pelo espírito das diferentes épocas da modernidade. Com elas, sela-se uma espécie de conformidade em relação à disjunção entre fazer artístico e intelectual e remuneração pelo trabalho. Mas a conclusão da reflexão de Aschenbach é reveladora: ao fim e ao cabo, conclui pelos resgates de sua distante memória, o burguês comum não difere tanto assim do artista… Como qualquer cidadão médio que luta pelos seus proventos, há também nas artes uma vida que é exaustiva, obstinada, áspera, perseverante, comedida. Nada do prazer descompromissado que perfilaria os contornos do gênio kantiano e dos resultados de seus gestos criadores.
Naquele panorama traçado pelos fios de lembrança de Aschenbach, uma pequena e decisiva diferença marca a fronteira entre o burguês comum e o artista ou o intelectual: a ilusão de um heroísmo delicado, alimentada por este. Com ela, o artista ou o intelectual nutre uma aura especial para justificar o limbo no qual se encontra no interior da batalha competitiva e selvagem do mercado e do capital. Com a construção de uma imagem heroica, alivia-se o descaso em relação ao valor de seu trabalho, ora tido como elevado por se realizar “apesar de” tudo, ora desprezado pela sua aparente inutilidade. Charles Baudelaire, porém, já descortinara a relação íntima entre a atividade venal do artista e a da prostituta na Paris do século 19. Ou seja, no universo fantasmagórico das mercadorias, não há alma capaz de escapar ao mais reles plano dos negócios…
Textos escritos por Otília Arantes apontam para algo que, em verdade, não é tão imperceptível: o trabalho artístico e cultural é fundamental para fazer rodar a engrenagem do mercado:
Não se trata apenas de uma metáfora da política cultural francesa, mas de um verdadeiro emblema das políticas de animação cultural promovidas pelos Estados do capitalismo central, em função das quais mobilizam então o atual star system da arquitetura internacional, no intuito de criar grandes monumentos que sirvam ao mesmo tempo como suporte e lugar de criação da cultura e reanimação da vida pública. Enquanto vão atendendo às demandas de bens não-materiais nas sociedades afluentes, também vão disseminando imagens mais persuasivas do que convincentes de uma identidade cultural e política da nação, e política porque cultural. Alguns governos, acossados pela crise e pela voga neoconservadora, não temem, em alguns casos, ao mesmo tempo restringir o orçamento do sistema previdenciário e investir no campo do cultural em expansão (de retorno seguro e rápido), fundindo publicidade e “animação cultural” — algo que o Beaubourg e satélites colocaram em cena em escala industrial. São iniciativas oficiais que alegam estar “animando” o combalido corpo social moderno (ou pós-moderno), graças à indução num público polimorfo de situações de fluidez, comunicação e souplesse — nos termos de um ideólogo do Ministério francês da Cultura.
Projetos urbanísticos foram feitos em torno de museus-entretenimentos, como ocorreu a partir do inaugural Beaubourg. Eles atraem turistas e fazem girar os caixas de galerias, restaurantes, lojas, livrarias, cafés. Algumas cidades são revitalizadas graças a eles. Não há dúvida de que essas espécies de shopping-centers da cultura podem ser questionadas em seus fins. Entretanto, o que não se pode negar é a participação central do trabalho artístico e intelectual no cerne desses projetos. Em resumo: não haveria museu sem arte, sem crítica de arte, sem artistas e intelectuais.
Mais comum nos últimos anos são os editais que atraem jovens artistas para produzirem em cidades economicamente pouco movimentadas. A última onda é oxigenar áreas quase-mortas a partir da exploração do trabalho de artistas, que, ante a falta de oportunidades, aceitam mergulhar em suas atividades em troca de uma passagem aérea e estadia temporária – alguns chegam a pagar pela “experiência” de trabalhar no estrangeiro.
Fetichizadas ao extremo, algumas produções artísticas, convertidas pelas feiras e galerias em mercadorias extraordinárias, ascendem ao ápice na roda mercadológica. Sendo difícil contabilizar todos os ingredientes que compõem o valor da obra e o valor do trabalho artístico, joga-se o preço de algumas peças para patamares estratosféricos. A arte se torna o território límbico do capitalismo – leilões, pilhagens, lavagem de dinheiro, impostos sonegados. Poucos artistas participam dos lucros finais. São proletários no sentido pleno do termo. Os que se tornam ricos são exceções que confirmam a regra.
Intelectuais, que dão corpo concreto ao tempo histórico e estabelecem a fortuna crítica do material produzido pela arte, orgulham-se por terem seu nome reconhecido. De fato, não é pouca coisa. Mas será mesmo que teriam que se contentar apenas com esse pueril orgulho vaidoso que provém daquela difusa e ultrapassada ideia de gênio? Será mesmo que a marca distintiva do trabalho artístico e intelectual teria que se fiar em um “heroísmo delicado” para sustentar o fôlego que assegura a contínua execução de tarefas extenuantes “apesar de” todo o resto?
Coronavírus e a pechincha cultural
No Brasil do coronavírus a vida vale pouco. Uma necropolítica sem disfarces conduz o fascismo desenfreado do atual governo. Nesse macabro cenário dos dias de hoje, artistas e intelectuais não integram nem mesmo a descrição anterior. Parece ser o fim daquela era burguesa, na qual o elã em torno do artista e do intelectual ainda vigorava em versões já bastante combalidas. Agora eles são desprezados, vilipendiados, criminalizados. São vagabundos que merecem morrer. O assassinato pode ser ostensivo ou pode se dar aos poucos, numa política de simplesmente deixar perecer. Para um governo comprometido apenas com a destruição, o vírus mortal veio a calhar.
Como já não podem contar com a “benevolência” de um Estado que apoie seu trabalho ou que pelo menos reconheça seu direito de existência, a classe artística e intelectual tenta se virar apelando para iniciativas patrocinadoras da cultura, feitas pela elite mais endinheirada. Sem que isso tenha um amplo alcance, multiplicam-se formas de “se virar” para poder sobreviver.
Entretanto, sobreviver hoje implica converter a aura do gênio em mercadoria. Os perfis de artistas e intelectuais se revestem da cápsula fetichizante tão logo são expostos nas mídias sociais. O “heroísmo delicado”, anteriormente mencionado, converte-se agora em orgulho ao ver a própria imagem consumida por meio do número de curtidas e compartilhamentos. Por outro lado, a falta de trabalho na era do coronavírus coloca os produtos culturais como os mais consumidos. Mas nem por isso o sustento daqueles que trabalharam para criá-los está garantido. Quem lucra com a produção artística e intelectual são as plataformas de internet, alimentadas gratuitamente com a difusão irrestrita de trabalhos culturais. O acesso contínuo, que garante o lucro de empresas como Facebook ou Google, depende do material disponibilizado. Além de entregarem de bandeja suas produções sem qualquer remuneração, o exercício incessante de difusão também é feito gratuitamente pelos próprios autores das obras. Anunciam-nas ao público alvo, entregam o material nas mãos de quem quer “consumir o produto”, facilitam as conexões algorítmicas das máquinas por critérios identitários, fazendo-as lucrar ainda mais.
O resultado de um trabalho intelectual e artístico, é certo, não tem um fim utilitário. Daí que o apelo seja o de tornar consumível o nome depois de vê-lo convertido numa espécie de slogan. Será uma chance de que um eventual ganha-pão possa ser garantido por meio de outras atividades, vendidas a partir da difusão do nome-slogan.
É curioso notar o lugar que fica reservado a essa camada social. Imprimindo o tempo histórico ao alinhavarem elementos subjetivos e objetivos em suas obras, artistas e intelectuais são paradoxalmente vistos como uma classe infantil, que dependeria de outros adultos, cujos pés estariam verdadeiramente fincados no chão da realidade. Nesse outro universo, tido como adulto de fato, as artes e a escrita filosófica emergem como atividades um pouco inconsequentes, quase irresponsáveis. Muitos artistas e intelectuais acabam por aderir a esse quadro imagético, como se tivessem escolhido livremente esse estilo de vida um pouco descompromissado. Romantizam a pobreza e a melancolia a que foram lançados, sentem-se incompreendidos pela natureza de suas ideias profundas ou pelos traços de sua arte pouco convencional. Sem descartar as nuanças desses esquemas e as várias camadas não tratadas aqui, retomo a questão: a quem serve exatamente esse arranjo ideológico que relega esse conjunto de cidadãos a um espaço social tão vulnerável?
Escrever sobre essas questões evidentemente é um risco. Não demorará para que acusem as linhas do texto, alegando terem sido escritas por alguém cujas condições privilegiadas seriam impeditivas de uma efetiva aproximação da vulnerabilidade de fato. Cabe a cada leitor julgar se essas ponderações vestem ou não o lugar reservado aos intelectuais e artistas da era burguesa até os dias de hoje. De qualquer maneira, se persisto na publicação desse material, é porque ainda alimento a expectativa de que, como intelectuais e artistas, queiramos mais do que o mero reconhecimento vaidoso de nossos nomes fetichizados e vendidos. O fim de nosso trabalho certamente não é comercial, tampouco se reduz a um mero bálsamo para nossos egos. Que conteúdos e formas, aos quais fomos capazes de dar corpo, possam ocupar espaços cada vez mais amplos na estruturação e ordenação da sociedade e da política. Que a complexidade da vida possa ganhar terreno ao invés de ser permanentemente suplantada pela simplificação unívoca do consumo e da produção da forma-mercadorias. Que modos diversos e surpreendentes possam existir nas suas mais densas e inventivas formas. Eis as expectativas que conduzem um trabalho intelectual e artístico. Como se pensava a respeito da luta proletária em outras épocas, já não temos muito a perder diante da mais ostensiva necropolítica, a não ser a vaidade barata que nutre nossas mais comedidas fraquezas… Se assim é, que a nossa libido não abrace a morte e a melancolia, mas volte-se para o mais fervoroso erotismo desejoso até que ele penetre e expanda cada filigrana da vida simbólica e concreta em suas diferentes instâncias sociais. Em todo caso, se a forma de nossos trabalhos não for capaz de romper a redoma que os confina na estrutura mercantil, que, então, saibamos ao menos cobrar bem daqueles que se apossam de nossas valiosas produções.
Alessandra Martins Parente é psicanalista, coordenadora do Projeto Causdequê? (UBS-Pinheiros/Programa da Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo) e membra do GT de Filosofia e Psicanálise da ANPOF (Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia), do Latesfip-USP (Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise) e do GEPEF (Grupo de Estudos, Pesquisas e Escritas Feministas.

