
Na atual conjuntura social, em que crescem as incertezas acerca do futuro e aumentam as desigualdades sociais e a pobreza, “não é possível falar das tarefas e desafios das esquerdas contemporâneas sem nos voltarmos para a correlação disso com as transformações socioeconômicas que definem nossa situação (aquilo que chamamos de ‘condição periférica’ ou ‘periferização do mundo’) porque a atual profusão de esquerdas diferentes reproduz dinâmicas e tendências características do terreno social periférico no qual estamos inseridos hoje”, adverte o sociólogo Edemilson Paraná.
Autor do livro “Arquitetura de Arestas: as esquerdas em tempos de periferização do mundo” (São Paulo: Autonomia Literária, 2022) juntamente com o psicanalista Gabriel Tupinambá, Paraná pontua que a atual prática cotidiana das esquerdas nos espaços de luta política é formada por “uma tríade composta por uma esquerda institucional-parlamentar ou ‘estadocêntrica’; a esquerda dita tradicional-radical ou ‘saudosa’; e, por fim, a esquerda fragmentária ou dita ‘pós-moderna’ – três grandes forças de gravitação que atraem a maioria das organizações, movimentos e coletivos políticos de esquerda atualmente. Na verdade, se formos olhar bem, são esquerdas que, na sua prática e modo de enquadrar as coisas, cada uma ao seu modo, dão centralidade a dimensões distintas da vida social: o Estado e as instituições; o Capital, o trabalhador e a economia; e a Cultura e comunidade”.
Segundo Gabriel Tupinambá, “um dos principais aspectos da formação social periférica é que aqui a fragmentação social parece otimizar os circuitos do capital”. Ele exemplifica: “É perfeitamente possível que as empresas hoje organizem o trabalho sem organizar o trabalhador – ou seja, o tempo, o processo laboral, é tudo subsumido no circuito de extração de valor, sem que isso demande a produção de uma experiência social comum para os trabalhadores, que permanecem dispersos, mediados por aplicativos, por relações difusas de trabalho e pela ameaça constante de desemprego”.
Na entrevista a seguir, concedida por e-mail para o Instituto Humanitas Unisinos – IHU, Paraná e Tupinambá comentam os principais aspectos do livro. “O que estamos oferecendo no livro é, sobretudo, um convite para uma nova tentativa de codificação dos impasses da prática política de esquerda em nosso tempo. E, nesse sentido, o que está em causa talvez seja mais a reformulação de algumas perguntas que circulam entre nós do que a oferta apressada de respostas definitivas que todos ansiosamente buscamos nestes tempos febris”, disse Paraná.
Recentemente, ambos abordaram o tema na palestra virtual “Desafios para construção política: os efeitos da periferização do mundo nas esquerdas”, promovida pelo IHU.

Edemilson Paraná é mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília – UnB, com período sanduíche realizado na SOAS/University of London. Atualmente leciona no Departamento de Ciências Sociais e nos Programas de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará – UFC e no Programa de Pós-graduação de Estudos Comparados sobre as Américas, da Universidade de Brasília – UnB.
Atuou como pesquisador no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea e realizou estágio pós-doutoral nos Departamentos de Economia e de Estudos Latino-Americanos da UnB. Além de outros trabalhos publicados nas áreas de Sociologia Econômica, Economia Política e Teoria Social, é autor do livro “A Finança Digitalizada: capitalismo financeiro e revolução informacional” (Insular, 2016), publicado também em inglês, com o título “Digitalized Finance: financial capitalism and informational revolution” (Brill, 2019, Haymarket, 2020).

Gabriel Tupinambá é graduado em Belas Artes pela Central Saint Martins, na Inglaterra, e mestre e doutor em Filosofia pela European Graduate School, na Suíça. É psicanalista e coordenador do Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia.
Confira a entrevista.
IHU – Como nasce o livro “Arquitetura de arestas: as esquerdas em tempos de periferização do mundo” e o que os faz se unirem na escritura desse texto?
Edemilson Paraná – O livro nasce de um debate, iniciado publicamente há alguns anos, mais precisamente em 2017, no Blog da editora Boitempo. Na ocasião, eu escrevi um texto com uma provocação sobre a existência do que me pareceriam ser três formas de esquerdas e a relação de oposição e complementariedade entre cada uma delas. Foi um texto que circulou um bocado e gerou alguma polêmica. O objetivo era refletir sobre de que modo esse estado de coisas nos dizia algo sobre os desafios de organização postos contemporaneamente à política de esquerda. Então, de um lado, o texto buscava oferecer um outro diagnóstico sobre nossos problemas e, de outro, por meio dessa eventual mudança de perspectiva, abrir um diálogo sobre novos arranjos e possibilidades a serem explorados.
Em alguma medida, de modo informal e assistemático, eu e o Gabriel vínhamos dialogando sobre essas questões já desde um pouco antes, a partir de 2016. Mas é só com a resposta do Gabriel ao meu texto inicial, também publicada no Blog da Boitempo, que o debate ganha corpo realmente. A ideia de transformar isso em um livro vem bem depois, quando percebemos, também em diálogo com outras pessoas, que tinha algo mais a ser explorado ali a partir do que emergiu da discussão.
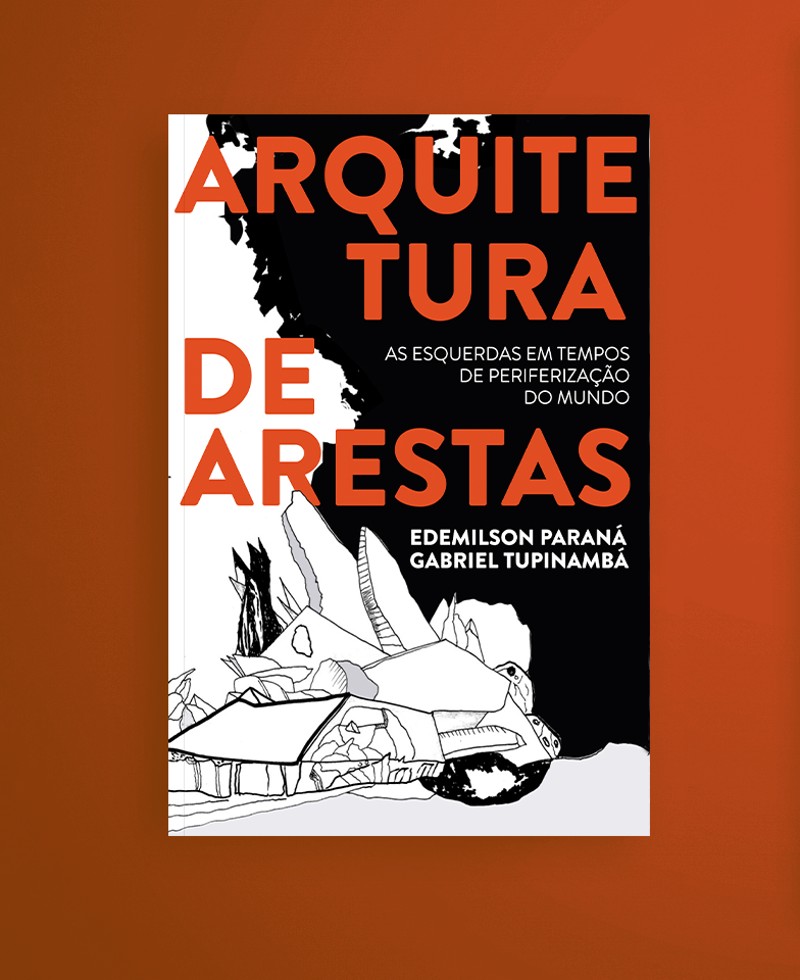
IHU – Como compreender essa ideia de periferização do mundo, presente no livro?
Gabriel Tupinambá – O tema da “periferização” precisa ser colocado no contexto de um longo debate que remonta às questões de Trotski e de Rosa Luxemburgo com a lógica do desenvolvimento “desigual e combinado” do capitalismo, que influencia posteriormente a teoria da dependência – de Ruy Mauro Marini, Gunder Frank, Vânia Bambirra etc. – e deságua nas ideias de Chico de Oliveira e Paulo Arantes, que promovem algo como uma crítica interna a essa tendência teórica. De forma resumida, o processo chamado de periferização se refere a uma dinâmica em que as condições socioeconômicas dos países periféricos não são nem lentamente substituídas por aquelas dos países ditos “desenvolvidos” nem permanecem sua contraparte estagnada. Ao invés disso, essa forma de sociabilidade tende a se expandir e avançar rumo ao centro. Como Thiago Canettieri explica muito bem em seu livro “A Condição Periférica”, muitas das características que considerávamos sinais de uma etapa mal-acabada no processo de formação nacional brasileiro se revelaram parte de um modelo social ainda mais adequado aos novos padrões de acumulação de capital, calcados na financeirização, na plataformização e na polimorfia do subemprego.
Podemos dizer, então, que um dos principais aspectos da formação social periférica é que aqui a fragmentação social parece otimizar os circuitos do capital. Por exemplo, como nos mostra Ludmila Abílio em seu brilhante estudo sobre as formas de trabalho das revendedoras da Natura, “Sem Maquiagem”, é perfeitamente possível que as empresas hoje organizem o trabalho sem organizar o trabalhador – ou seja, o tempo, o processo laboral, é tudo subsumido no circuito de extração de valor, sem que isso demande a produção de uma experiência social comum para os trabalhadores, que permanecem dispersos, mediados por aplicativos, por relações difusas de trabalho e pela ameaça constante de desemprego. Vale notar, a título de comprovação da tese que mencionamos, que Ludmila escrevia sobre isso em 2014, e é só agora que vemos aparecer livros como o “Work Without the Worker” [Trabalho sem o trabalhador], do inglês Phil Jones, à medida em que a água começa a chegar no pescoço por lá também.
Periferização e as esquerdas
Voltado ao assunto, a tese da periferização dá ênfase nessa simbiose entre o atraso e o avanço social, desfazendo a impressão de que, por exemplo, existiriam apenas “resquícios” de colonialismo no Brasil, traços que o avanço dos ideais liberais eventualmente apagaria, argumentando, ao invés, que a terra arrasada do extrativismo, do Estado policial, da perpétua crise política, é na verdade um solo fértil para o capitalismo contemporâneo – uma verdadeira tecnologia “de ponta” para exportação, ou, como propõe o título de uma ótima análise da nossa conjuntura durante a pandemia, é uma “masterclass em fim do mundo”.
Uma das concordâncias fundamentais que eu e Paraná tínhamos em “nossos papos”, antes mesmo de pensarmos em escrever juntos, era a necessidade de situar os desafios da esquerda dentro desse novo contexto histórico e econômico. Como elaboramos nos últimos capítulos do livro, a perspectiva da periferização tem um corolário importante: se ela nos permite distinguir as transformações estruturais no “terreno” social das diferentes estratégias que os atores políticos adotam para lidar com essa situação – em suma, se a periferização não é apenas uma consequência do neoliberalismo ou do discurso hegemônico de direita -, então seria preciso considerar seus efeitos sobre a própria esquerda, que também ocupa o mesmo espaço social fraturado e tenso. Há, portanto, uma conexão necessária entre a promoção do tema da periferização e um novo olhar para o ecossistema das esquerdas no país.
IHU – Vocês formulam uma ideia de três esquerdas. Gostaria que, brevemente, recuperassem essa ideia e apostassem qual é o limite do debate entre essas esquerdas hoje.
Edemilson Paraná – Levando em conta a prática cotidiana das esquerdas nos espaços de luta política em que elas habitam no presente, tentei oferecer um modelo meio simplório da divisão – na verdade, descobrimos logo, uma complementação na oposição e uma oposição na complementação – que marca a experiência política das esquerdas. Com a nota de que, evidentemente, estas não se apresentam na realidade em estado “puro”, tampouco excludentes entre si. Esse modelo é criticado, reformulado e adensado no livro, mas a base do nosso diálogo segue sendo essa intuição inicial. Trata-se, em resumo, de uma tríade composta por uma esquerda institucional-parlamentar ou “estadocêntrica”; a esquerda dita tradicional-radical ou “saudosa”; e, por fim, a esquerda fragmentária ou dita “pós-moderna” – três grandes forças de gravitação que atraem a maioria das organizações, movimentos e coletivos políticos de esquerda atualmente. Na verdade, se formos olhar bem, são esquerdas que, na sua prática e modo de enquadrar as coisas, cada uma ao seu modo, dão centralidade a dimensões distintas da vida social: o Estado e as instituições; o Capital, o trabalhador e a economia; e a Cultura e comunidade. Visto de outra forma, esquerdas que operam a partir de lógicas particulares que identificamos como sendo a lógica do contrato, do valor e da reciprocidade. O objetivo inicial do diagnóstico era detectar o que à altura chamei de “vícios e virtudes” de cada uma delas em três níveis de análise: ideológico, epistemológico e político.
Vícios e virtudes
O problema é que esses três tipos são flagrantemente interdependentes, e que, em certa medida, seus ditos vícios e virtudes são, ao fim e ao cabo, inseparáveis entre si; já que cada uma dessas correntes representa, em última instância, uma visão de mundo mais ou menos coerente com sua própria amarração e lógica interna. Na verdade, o caminho circular que vai de um tipo ao outro acabou por se tornar a via sacra de militantes frustrados e desiludidos com seus próprios espaços de atuação política, sempre em busca de seu próprio (e, por vezes, pessoal) paraíso organizativo. Nossa aposta é que, em grande parte, os limites do debate entre essas esquerdas hoje podem ser entendidos por essa via.
IHU – Se por um lado não podemos reduzir tudo a uma objetividade pragmática para sair em busca de respostas a um estado de crises, como não nos perdermos em elucubrações teóricas diante de problemas tão duros e concretos, como a fome e o empobrecimento da população no Brasil de hoje?
Gabriel Tupinambá – Essa pergunta, para mim, pode ser entendida em dois sentidos.
Primeiro sentido
O primeiro é algo do tipo: “Como vocês podem perder tempo com ‘elucubrações teóricas’ quando tem gente passando fome?” É uma pergunta importante, mas eu acho que ela aponta para um impasse bem particular da vida política. Pense no papel da teoria nas ciências, por exemplo. Talvez porque, na maioria das vezes, o cientista não esteja socialmente implicado com seu objeto de pesquisa (ou pelo menos não ache que está), quando deixamos os fenômenos um pouco de lado para olhar para o quadro negro, parece mais aceitável que, com esse gesto, estejamos tentando superar os limites da apresentação imediata do nosso objeto de estudo, que pode ser enganosa, e buscando meios – teóricos, técnicos etc. – de nos aproximar ainda mais da realidade. Na política, onde essa “desimplicação” não é possível – afinal, somos gente pensando sobre gente -, esse gesto de se voltar ao quadro negro, às abstrações, é quase indistinguível do gesto de dar as costas para a realidade, de evitar olhar para ela.
Quanto a esse sentido da pergunta, isto é, “por que dar as costas para a realidade?”, não tenho muito a dizer, a não ser que existem muitas formas de se evitar a dura realidade concreta e, nesse quesito, a teorização talvez nem seja mais eficaz que outras formas de evitação, como o próprio fascínio desolador com as imagens da miséria, que encerra qualquer conversa, torna qualquer ação pequena demais quando comparada à extensão do horror social. Em todo caso, não sei se é possível, ou mesmo desejável, esvaziar completamente a sensação de que há algo de obsceno na teorização política.
Segundo sentido
Isso nos traz ao segundo sentido da pergunta, que seria algo do tipo: “Como avaliar, no curso da teorização, se estamos nos aproximando da realidade ou dando as costas para ela?” Ou seja, o foco está no problema de não se perder na teoria. Aqui o caso é um pouco diferente: tudo bem que a teoria pode ser importante, impedindo a redução dos problemas a uma “objetividade pragmática” ou cega, mas que balizas temos para saber até onde ir, para reconhecer o que é uma boa formulação e mesmo como inserir a teorização dentro da vida política? Essas são perguntas que informam não só o conteúdo do Arquitetura de Arestas, mas também a sua forma.
Por exemplo, escrever na forma de um bate e volta entre textos que respondem um ao outro – como fizemos nos primeiros seis capítulos – tem um pouco esse benefício de, mesmo dentro da elaboração teórica, você ser confrontado com alguma coisa que não pensou ou não viu. Fica alguém ali de advogado do diabo, não deixando você ficar autocomplacente. E aí vem um ponto importante, porque você poderia dizer: “ah, mas então o diálogo e o debate é que permitem não nos perdermos na teoria”. Mas claro que isso não é verdade, como vemos todos os dias: às vezes, o debate teórico é justamente o que nos permite parar de medir o que estamos pensando à luz de uma situação política real e passar a se guiar exclusivamente pelo jogo discursivo com um interlocutor. Digo isso porque, para mim, o que fez essa troca de textos servir como um modo de me manter atento à realidade foi a dimensão comum do projeto: mesmo quando o Edemilson dizia algo com o qual eu discordava, ou criticava algo que escrevi, eu sabia, de antemão, que estávamos no mesmo barco político. Aí, esses pontos cegos que ele levantava não podiam ser descartados dizendo simplesmente: “ah, mas ele está preocupado com outra agenda”. Então, para mim, não é o debate em si que mantém a teoria com os pés no chão, mas a combinação de dissenso com organização – sem esse segundo elemento [organização], o dissenso pode nos levar a só nos entretermos infinitamente nesses combates abstratos.
Em todo caso, isso é só um exemplo a partir da forma do livro; não é uma resposta geral para a questão de como manter essa bússola que liga a teorização ao mundo político efetivo. Outro modo de avaliar isso – e que também está em jogo no conteúdo do nosso livro –, é a capacidade da teoria de criar uma linguagem ou gramática para uma dada situação prática. A teoria não produz transformação por si só, mas ela pode nos ajudar a ver os “componentes” dos diferentes fenômenos, reconhecer variações, aprender a falar do que acontece com mais recursos para diferenciar essa daquela situação. Nesse sentido, uma teoria que tem utilidade na vida militante possivelmente expande o nosso arcabouço de nomes e modos de ver o que acontece. No caso específico de Arquitetura de Arestas, um modo de avaliar a pertinência da nossa proposta é checando se o livro nos ajuda a elaborar uma gramática mais rica para lidar com os problemas concretos que surgem dentro das organizações de esquerda, que nem sempre são redutíveis a questões morais de traição, peleguismo, dirigismo etc.
IHU – O que o método de análise de vocês, presente no livro, os fez descobrir?
Edemilson Paraná – Várias coisas (risos). Mas, no meu modo de ver, talvez o próprio “método de análise”, caso queiramos chamar assim, seja a principal descoberta.
O que estamos oferecendo no livro é, sobretudo, um convite para uma nova tentativa de codificação dos impasses da prática política de esquerda em nosso tempo. E, nesse sentido, o que está em causa talvez seja mais a reformulação de algumas perguntas que circulam entre nós do que a oferta apressada de respostas definitivas que todos ansiosamente buscamos nestes tempos febris. É algo que soa um pouco difícil e até estranho, eu sei, mas estamos convencidos de que é uma tarefa urgente e fundamental se quisermos fazer nascer outra forma de ação política neste campo.
Desencaixe
Falamos, por exemplo, quanto à conjuntura mais recente, da última década, de um desencaixe entre acontecimentos já codificados pela fragmentação social característica daquilo que apontamos como um “novo terreno social” – a tal “periferização do mundo” – e uma forma de mapear esse espaço que ainda remete a outras condições históricas já superadas em certo aspecto. Refletir as causas, condições e consequências desse desencaixe é um dos principais objetivos do esforço empenhado no livro e, para nós, é algo que só foi possível à luz desse “método de análise”.
Então, o que descobrimos, nesse sentido, é que não é possível falar das tarefas e desafios das esquerdas contemporâneas sem nos voltarmos para a correlação disso com as transformações socioeconômicas que definem nossa situação (aquilo que chamamos de “condição periférica” ou “periferização do mundo”) porque a atual profusão de esquerdas diferentes – observadas e avaliadas criticamente no livro – reproduz, ao nosso ver, dinâmicas e tendências características do terreno social periférico no qual estamos inseridos hoje.
Daí a nossa aposta por um modelo analítico para pensar o dilema das esquerdas, as mesmas ferramentas gerais que empregamos na leitura mais ampla da sociedade, e para pensar a transformação, as mesmas ferramentas que nos permitem descrever a crise em que nos encontramos. Um modelo ampliado de análise, em suma, que nos permita conhecer onde estamos pisando e como isso nos afeta. Para nós, então, trata-se de uma maneira de reconstruir ferramentas conceituais para pensar o que é a esquerda, já que ela mesma é uma tentativa de responder ao que chamamos de “condição periférica”, que trinca a realização ou a expectativa de realização política de uma certa homogeneização social.
IHU – Uma “arquitetura de arestas” emerge do que, essencialmente?
Gabriel Tupinambá – Já falamos sobre a tese da “condição periférica”: a hipótese sobre o fim de uma dinâmica de expansão global do modo de organização social dos países desenvolvidos, que por muitos anos pareceu ser a tendência histórica do capitalismo global, mas hoje precisamos reconhecer ter sido uma exceção histórica, não a regra. No lugar dessa dinâmica anômala, que foi sustentada não só por condições econômicas singulares, mas também pela força política da classe trabalhadora no pós-guerra, vemos a expansão das condições sociais dos países ditos periféricos rumo ao centro da economia-mundo.
Dada essa hipótese analítica, faltam ainda dois passos para poder explicar como que essa ideia surge no nosso argumento: primeiro, entender como é que esse processo de periferização afeta as formas de organização das esquerdas, no sentido de tirar um pouco o nosso chão, de colocar em questão pressupostos da nossa atuação e de materialmente dificultar processos coletivos. E aí, por fim, podemos falar de uma “arquitetura de arestas” como uma imagem interessante para o desafio político que se coloca sob essas condições – uma imagem para o problema de construir um espaço comum habitável a partir de fragmentos cheios de “pontas” afiadas e que não se encaixam.
Arquitetura de arestas x ruína
Um breve parênteses sobre esse título. Depois que escrevemos o livro é que eu fui pensar sobre isto: sempre tive um pouco de dificuldade com uma das imagens que retorna em análises políticas para caracterizar o nosso momento histórico, que é a “ruína”. Depois que o livro saiu – e fiquei olhando para os desenhos incríveis que a Luisa Marques fez para o livro -, percebi que a diferença de se algo é uma ruína ou se é material de construção diz muito sobre a disposição de quem está vendo: se estamos contemplando o aspecto quase sublime dos restos de uma construção anterior ou se estamos vasculhando o chão em busca de algo que possa ser útil para fazermos algo agora. É a mesma cena, mas a imagem da ruína insinua que não há nada de político a fazer a não ser espalhar a notícia de que o edifício antigo veio abaixo – e por isso corre sempre o risco de estetizar demais esse fracasso. A imagem que estamos tentando propor toca neste mesmo cenário, mas do ponto de vista dos desafios de reorganização política sob essas condições – daí também todas as metáforas que vêm junto: canteiro de obras, caixa de ferramentas, análise do terreno etc.
Mas retornando para a sua pergunta, o ponto todo é que uma arquitetura de arestas não “emerge”: uma das consequências da periferização é que não há nenhuma tendência histórica que nos levaria espontaneamente na direção de um espaço político comum, uma tendência com a qual poderíamos contar para “aparar as arestas” das diferentes frentes de luta e facilitar sua composição e o acúmulo de forças. Nos países desenvolvidos, onde havia se formado um espaço público centrado na trindade do cidadão-consumidor-trabalhador, esse pano de fundo comum vai sendo desmontado e substituído por formas híbridas e conflitivas de sociabilidade, enquanto, por aqui, onde essa homogeneidade social nunca se formou de fato, o horizonte político estabelecido por esse ideal de um circuito virtuoso entre democracia, cultura e trabalho vai perdendo seu lastro de realidade.
E as esquerdas nisso tudo? Bem, o que sugerimos no livro é que, fosse enquanto dinâmica concreta nas “sociais-democracias realmente existentes”, fosse enquanto horizonte político ideal, essa homogeneidade social tinha um papel central na organização das esquerdas – a ponto de dar a impressão retroativa de que sempre houve apenas uma esquerda, diferenciável por um “degradê” único de radicalidade.
Então vemos uma conexão entre esse processo de periferização e uma série de “sintomas mórbidos” – para mencionar o título de um livro maravilhoso da Sabrina Fernandes – dentro da esquerda: intensificação da tensão entre trabalho e tempo de militância, perda de capacidade de mapeamento da realidade social, adoecimento generalizado entre militantes, rixas infindáveis entre organizações e abordagens políticas distintas, convocações impotentes a uma “unidade das esquerdas”, crise do apelo popular e da dimensão programática dos projetos eleitorais mais à esquerda… Essa fragmentação não é só nossa; ela nos afeta porque estamos todos habitando esse mesmo terreno fraturado. A boa notícia – se é que se pode chamar assim – é que isso também significa que, se soubermos lidar com essa nova conjuntura dentro das esquerdas, por conseguinte, estaremos também dando sinais de que estamos prontos para responder de forma mais geral a essa nova geografia sociopolítica. Como falei, construir algo comum sob essa condição é o desafio ao qual demos o nome de uma “arquitetura de arestas”.
IHU – De que forma podemos compreender o estado de crises econômicas, sociais e ambientais desde a perspectiva de uma “arquitetura de arestas”?
Edemilson Paraná – Em grande medida, o que dissemos antes responde a questão. O fato é que há muitas formas de explicar, nomear, enquadrar e entender o que são essas crises e os problemas e desafios que elas nos impõem. Essa multiplicidade, essa diferença, ou pior, a incomensurabilidade imediata entre elas, talvez seja um dos pontos mais significativos a serem elaborados se queremos lidar de um modo produtivo com tais crises e as distintas formas de representá-las politicamente. Por isso é que jogamos peso na ideia de que as transformações socioeconômicas do capitalismo contemporâneo produziram uma reconfiguração inédita no tipo de esforço necessário para a construção de um espaço político comum. Esse capitalismo de crise, de retração do centro e avanço da fratura periférica, não oferece mais condições para uma modelagem unificada do espaço social, o que dificulta a construção de um significado social único e inconteste para essas crises. Isso porque um dos efeitos dessa “disformia” é o esvaziamento de um substrato comum que garantiria um tecido social mais ou menos homogêneo, costurado pela promessa de que o progresso técnico e o trabalho nos levariam à superação dos conflitos sociais. Do ponto de vista das organizações de esquerda, de seu esforço organizativo, essa é a questão fundamental para pensarmos a relação entre as crises que se impõem nessa conjuntura e o chamado para uma política que se atente para a necessidade de algo como uma “arquitetura de arestas”.
IHU – No que consistem as mudanças nas lutas política do mundo de hoje? E a esquerda tem conseguido acompanhar essas mudanças?
Gabriel Tupinambá – Já falamos um pouco sobre isso, mas dá para abordar essa pergunta por outro ângulo. Digo isso pelo seguinte: algumas pessoas podem reconhecer, principalmente nos capítulos que escrevi do livro, um retorno constante a uma visão tática que parece a da “pré-figuração”. Eu não tenho certeza sobre onde nasceu esse termo, mas quem me apresentou o conceito foi a Sabrina [Fernandes]. Em linhas gerais, a política pré-figurativa tenta produzir, em suas organizações atuais, traços daquilo que quer implementar em larga escala no futuro – e desse jeito dá contornos concretos a ideias que poderiam parecer utópicas ou impossíveis. Em vários momentos do livro, sugiro algo que soa assim: a ideia de que, dado que as organizações de esquerda são afetadas pela condição periférica tanto quanto o resto do tecido social, os modos como a militância é capaz de lidar com esses impasses também servem de sinais de quais seriam as nossas respostas e propostas nessa nova conjuntura mais geral. Então tem algo no argumento de alguns capítulos que escrevi que sugere o valor estratégico dessa antecipação do futuro dentro das organizações políticas. Mas tem também uma diferença importante e que pode ser um caminho interessante para responder à pergunta que você fez.
A diferença é a seguinte. Uma coisa é existir uma dinâmica mais ou menos consistente de organização social, oferecendo certos caminhos possíveis de reprodução da vida das pessoas, de apaziguamento das tensões sociais, de balanço entre exploração do trabalho e alívio do sofrimento, que leva, no todo, à sua própria perpetuação. Ou seja, há um certo modo de unificação e reprodução social já estabelecido e aí introduzimos uma visão de outra sociedade possível e politizamos as pessoas nessa direção: encontrar novos nomes para seu sofrimento, apresentar novas formas de solidariedade e ação coletiva e reuni-las em sindicatos, partidos, movimentos etc., criando uma oposição política. Nessa visão simplificada, a equação “quanto mais gente empregada, mais valor excedente extraído”, dá o tom das formas de acumulação de capital, e os Estados-Nação, de olho em facilitar os processos de valorização do capital, se ocupam de gerir os trabalhadores, de garantir que eles estejam prontos e qualificados para serem empregados, que tenham interesse em permanecer no emprego, que possam resolver suas tensões no palco da lei. Dentro desse esquema, a reprodução da vida é um problema gerido pelo próprio sistema social, e a militância chega por cima disso com a política, com a organização, com intervenções e palavras de ordem. Nesse contexto, antecipar algo do futuro tem um papel político – é como convencemos as pessoas de que a vida poderia ser diferente, é algo que faz de um sindicato um espaço inesperado de lazer e confraternização, é algo que torna o partido o lugar de uma experiência diferente de dignidade e camaradagem, por exemplo. Ou seja, a pré-figuração, nesse contexto, é realmente uma estratégia política.
IHU – No que consistem as mudanças nas lutas política do mundo de hoje? E a esquerda tem conseguido acompanhar essas mudanças?
Gabriel Tupinambá – Já falamos um pouco sobre isso, mas dá para abordar essa pergunta por outro ângulo. Digo isso pelo seguinte: algumas pessoas podem reconhecer, principalmente nos capítulos que escrevi do livro, um retorno constante a uma visão tática que parece a da “pré-figuração”. Eu não tenho certeza sobre onde nasceu esse termo, mas quem me apresentou o conceito foi a Sabrina [Fernandes]. Em linhas gerais, a política pré-figurativa tenta produzir, em suas organizações atuais, traços daquilo que quer implementar em larga escala no futuro – e desse jeito dá contornos concretos a ideias que poderiam parecer utópicas ou impossíveis. Em vários momentos do livro, sugiro algo que soa assim: a ideia de que, dado que as organizações de esquerda são afetadas pela condição periférica tanto quanto o resto do tecido social, os modos como a militância é capaz de lidar com esses impasses também servem de sinais de quais seriam as nossas respostas e propostas nessa nova conjuntura mais geral. Então tem algo no argumento de alguns capítulos que escrevi que sugere o valor estratégico dessa antecipação do futuro dentro das organizações políticas. Mas tem também uma diferença importante e que pode ser um caminho interessante para responder à pergunta que você fez.
A diferença é a seguinte. Uma coisa é existir uma dinâmica mais ou menos consistente de organização social, oferecendo certos caminhos possíveis de reprodução da vida das pessoas, de apaziguamento das tensões sociais, de balanço entre exploração do trabalho e alívio do sofrimento, que leva, no todo, à sua própria perpetuação. Ou seja, há um certo modo de unificação e reprodução social já estabelecido e aí introduzimos uma visão de outra sociedade possível e politizamos as pessoas nessa direção: encontrar novos nomes para seu sofrimento, apresentar novas formas de solidariedade e ação coletiva e reuni-las em sindicatos, partidos, movimentos etc., criando uma oposição política. Nessa visão simplificada, a equação “quanto mais gente empregada, mais valor excedente extraído”, dá o tom das formas de acumulação de capital, e os Estados-Nação, de olho em facilitar os processos de valorização do capital, se ocupam de gerir os trabalhadores, de garantir que eles estejam prontos e qualificados para serem empregados, que tenham interesse em permanecer no emprego, que possam resolver suas tensões no palco da lei. Dentro desse esquema, a reprodução da vida é um problema gerido pelo próprio sistema social, e a militância chega por cima disso com a política, com a organização, com intervenções e palavras de ordem. Nesse contexto, antecipar algo do futuro tem um papel político – é como convencemos as pessoas de que a vida poderia ser diferente, é algo que faz de um sindicato um espaço inesperado de lazer e confraternização, é algo que torna o partido o lugar de uma experiência diferente de dignidade e camaradagem, por exemplo. Ou seja, a pré-figuração, nesse contexto, é realmente uma estratégia política.
Nesse contexto, onde se desfaz a correlação entre produção capitalista e reprodução social do trabalhador, o papel das organizações de esquerda muda de uma forma significativa, uma vez que se inserir no circuito de reprodução da vida material não é mais uma oportunidade de dramatizar agora o que poderia acontecer no futuro, mas uma necessidade para que exista qualquer base política possível. Mas, para reconhecer isso, precisaríamos antes reconhecer que “marcamos bobeira” achando que o capitalismo sempre iria preparar o terreno para a politização, garantindo as suas condições básicas de possibilidade: na medida em que o circuito de acumulação não costura mais o tecido social, algumas das atividades e preocupações que antes categorizávamos como “pré-políticas”, “assistencialistas”, “demagógicas” ou “administrativas” precisam ser reavaliadas. Nesse sentido, poderíamos dizer que um desafio que esse novo momento histórico coloca para as esquerdas – e claro que existem movimentos e organizações que pensam isso há muito tempo, especialmente (que surpresa!) nas periferias – é incluir as condições materiais para a subjetivação política dentro do escopo das tarefas militantes e organizacionais.
IHU – A rua, por excelência, era o espaço público para fazer política, da panfletagem ao comício. E agora? Como as redes e a tecnologia reconfiguram esse espaço público e como observam a forma como vem sendo ocupado?
Edemilson Paraná – Esse não é bem o nosso foco, ainda que seja certamente um ponto relevante da reflexão. Sobre esse aspecto, excelentes análises, dentro e fora do Brasil, têm sido produzidas. Eu citaria, entre outros, os trabalhos da Letícia Cesarino, da Isabela Kalil e da Lori Regattieri. De modos distintos, eles servem como ilustrações importantes, neste particular, do que julgamos pontos de entrada para uma reflexão sobre um certo esvaimento ou crise daquele velho modo “moderno”, digamos, de fazer política, estruturado numa autonomização relativa das esferas sociais, das fronteiras mais ou menos bem estabelecidas entre o público e o privado, da política representativa racional-legal, seus símbolos e instituições e, no interior dela, da pressuposição de um comportamento consciente por parte dos agentes, do valor da cidadania e dos direitos, da autoridade de certas instituições reconhecidas e de veículos de enunciação e comunicação de massa, da legitimidade da ciência e dos especialistas etc.
Os papéis, usos e significados da internet e das mídias sociais quanto às novas formas de sociabilidade e subjetivação política que se formam no seu interior, se conectam diretamente, no meu modo de ver, com o que estamos chamando aqui de periferização do mundo, com as dores e delícias – mais dores do que delícias, talvez (risos) – de se fazer política de esquerda em nosso tempo.
Gabriel Tupinambá – Para polemizar um pouco, eu queria só comentar uma questão. É muito sintomático que a “rua” tenha virado o símbolo do lugar de fazer política. Por um lado, é inegável que muitas das principais lutas contemporâneas têm uma relação fundamental com a rua: breque de entregadores, greve de caminhoneiros, para não falar do movimento Passe Livre e de Junho de 2013. A gente vive, de certa forma, um ciclo de lutas que está ligado ao transporte. Mas a rua que está em jogo aí é a rua logística, não é a rua do espaço público, onde a gente faz protestos exercendo um direito cidadão. E mesmo nos casos de lutas ligadas ao transporte, não é exatamente verdade que é ali, na rua, que a política se constrói.
Para mim, a rua é onde a política contemporânea aparece, o que é outra coisa. E é ali que a política aparece por uma razão bem básica: porque ali ela atrapalha o trânsito e os transeuntes! A minha experiência da rua, pelo menos, não é da rua como espaço público, de convívio social – o asfalto é quase a unidade mínima da logística; ele serve para “capinar” um circuito para a circulação mercantil de coisas e de gente em meio a um tecido social cada vez mais heterogêneo. Então, para mim, a rua ter se tornado esse habitat natural da ação política é algo bem emblemático dessas transformações que estamos discutindo aqui, até porque há uma relação muito bem estudada entre periferização e a promoção do “espaço abstrato”, dessas vias que conectam fornecedores sem efetivamente conectar pessoas.
Estou mencionando isso porque essa chave de leitura que liga fragmentação do espaço social e logística urbana tem muito a ensinar também sobre as dinâmicas da política online. Do ponto de vista da periferização, podemos falar de uma espécie de fetichização da informação – em analogia com o fetiche da mercadoria mesmo, que apaga as especificidades das condições de produção de mercadorias e permite a equivalência entre elas parecer algo natural. Nas redes sociais, as condições sociais heterogêneas dos usuários são apagadas e ficamos com a impressão de que só tendo acesso ao que dizem na internet é suficiente para depreender de onde falam.
IHU – Rodrigo Nunes aponta que a originalidade da obra dos senhores é a meta-resposta para a pergunta “por onde começar?”. Por que – e como – num estado de crises devemos nos questionar “por onde começar”?
Gabriel Tupinambá – Já falamos um tanto sobre a relação entre a crise da sociedade do trabalho e a necessidade de reposicionar os problemas organizacionais e as dinâmicas materiais de reprodução social da militância, bem como os novos desafios que tudo isso traz para a composição entre fragmentos das esquerdas. Então as razões de por que acreditamos que é necessário dar um passo atrás e repensar algumas coisas já está posta. Sendo assim, queria aproveitar a sua menção ao Rodrigo Nunes, que escreveu o posfácio do livro, para comentar outra coisa que está relacionada a isso: tenho a impressão de que está surgindo no Brasil um campo de pensamento muito singular sobre as questões organizacionais na política de esquerda.
Rodrigo Nunes lançou – por enquanto, só em inglês – um livro sobre o assunto, muito original, chamado Neither Vertical nor Horizontal, que vai sair aqui pela Ubu neste ano, e a Sabrina [Fernandes], que já mencionei algumas vezes, é autora de Sintomas Mórbidos, que considero também uma contribuição muito especial para a análise das dinâmicas internas à esquerda contemporânea. Rodrigo fala de uma “ecologia” de organizações, enquanto a Sabrina discute a esquerda “mosaico”, e nós propomos a “arquitetura de arestas”. Mesmo que as referências conceituais e as experiências militantes que balizam cada um desses trabalhos sejam distintas, há muitas coisas em comum entre eles. Somos todos pessoas com uma vida heterogênea na militância – no sentido de circularmos entre partidos, movimentos e outros projetos políticos -, com diagnósticos das Jornadas de Junho que levam a sério o seu potencial sem cair num fascínio acrítico, que se interessam não apenas pelo futuro desse ou daquele projeto político, mas pelas relações e conflitos entre diferentes frentes de luta e que, motivados por isso tudo, têm um interesse de repensar de forma realista nosso modo de encarar o que significa se organizar politicamente.
Fragmentação das esquerdas e novas formas de ação política
Por exemplo, Rodrigo começa o livro dele analisando as diferentes apresentações da “melancolia de esquerda” e sua relação com a saturação do debate entre espontaneísmo versus ação organizada. Ele parte desse impasse para construir um outro conceito de organização coletiva, mais geral, que nos permite reconhecer que até aquilo que não tem uma forma reconhecível de organização política – não é um partido, um movimento social identificável etc. – é na verdade um processo organizado. E é desse ponto de vista que podemos olhar para o campo das esquerdas como uma ecologia, como um sistema composto por muitas formas de organização e que se relacionam entre si, queiram ou não – e extrair desse novo ponto de vista uma série de ferramentas bastante pragmáticas para repensar a ação coletiva.
Sabrina também faz uma análise da fragmentação das esquerdas brasileiras, que ela aborda principalmente do ponto de vista das dinâmicas de “ultrapolítica” e “despolitização” que se exacerbam no momento em que a dinâmica das esquerdas se organiza em torno da oposição ao Partido dos Trabalhadores. Através de uma pesquisa de campo extensa, ela vai reconhecendo nesse “ecossistema político” uma série de impasses de fundo que atravessam diagonalmente todas essas diferenciações, problemas que ficam escamoteados enquanto nós nos entretemos em debates intermináveis entre frações da esquerda. Por isso ela também propõe uma mudança de foco do debate, se voltando para a problemática de como podemos trabalhar com os diferentes “campos semânticos” das esquerdas atuais de modo a voltarmos a focar em ações efetivas e voltadas para a base social para além da disputa interna.
Nesse contexto, o nosso livro pode ser entendido como uma contribuição intermediária. Rodrigo argumenta que temos que superar a dicotomia do “ou é organizado ou não é” e começar a pensar e agir a partir do reconhecimento de que existem múltiplas formas de organização. Sintomas Mórbidos faz uma análise empírica da situação tensa desse ecossistema organizacional brasileiro no pós-Junho. Nosso livro se situa entre esses dois estudos, propondo uma hipótese a respeito das determinações desse espaço múltiplo: sim, existem muitas formas de organização, mas elas não são quaisquer. Como Paraná argumenta logo no começo do livro, essas formas têm “atratores” ou lógicas particulares que cada processo coletivo mistura de uma forma mais ou menos singular, que identificamos como sendo a lógica da reciprocidade, do contrato e do valor. Essa proposta pode ser vista como intermediária porque permite situar essa multiplicidade organizacional dentro das transformações socioeconômicas da formação social brasileira contemporânea, mudanças que são parcialmente responsáveis pelos sintomas de fragmentação e tensionamento que a Sabrina pesquisou no trabalho dela.
Eu estou focando nas contribuições do Rodrigo e da Sabrina em parte porque acho muito oportuno que o livro dele esteja para ser lançado aqui e o da Sabrina, que já foi um sucesso, esteja sendo reeditado este ano também, ambos no ano em que lançamos o Arquitetura. Mas essa inquietação com as questões organizacionais é um fenômeno mais geral e muitos pesquisadores, mas também militantes de toda sorte, têm se preocupado com isso aqui no Brasil – o que, é claro, não é à toa.
Achei que valia a pena fazer esse desvio da sua pergunta inicial porque acredito que seria muito importante dar corpo e alguma consistência para esse campo de problemas e ideias. Quanto melhor estabelecido for esse debate, quanto mais ele fizer parte da “caixa de ferramentas” das esquerdas, mais fácil vai ser para militantes nas mais diferentes organizações levantarem esse tipo de questão em seus espaços de luta sem se sentirem sozinhos ou como se estivessem se preocupando com problemas menores.
IHU – Precisamos viver nossos “canteiros de obras” para não cair na tentação de usar a “caixa de ferramentas” de outros? Como nos inspirarmos para construir nossas próprias ferramentas?
Edemilson Paraná – Talvez seja menos uma questão de inspiração e mais uma questão de necessidade, da transpiração que pede qualquer trabalho organizativo. É justamente porque carecemos, ainda, de plataformas de trânsito entre os resultados de diferentes experimentos políticos, que se torna necessário investirmos na construção de ferramentas que nos permitam avaliar o terreno acidentado das fraturas do capitalismo periférico e descobrir, em ato, por tentativa e erro, o que significa construir algo sob essas novas condições. E tão melhor quanto mais o saldo dessas tentativas for capaz de circular e se comunicar entre si.
Para atendermos à necessidade de inventar novas ideias e práticas neste campo, será preciso levar em conta que uma organização política é, na verdade, o resultado de uma mistura complexa de espaços e escalas sociais que submetem nossas bandeiras e discursos a fins que podem se descolar completamente de nossos planos iniciais – sobretudo quando não sabemos negociar devidamente com as condições subjacentes sobre as quais discutimos aqui.
Se a hipótese desta “condição periférica” de que falamos aqui está correta, é evidente que poderemos contar cada vez menos com um pano de fundo comum, com uma homogeneidade que poderia garantir de alguma forma certo encadeamento ou coimplicação meio automática entre os diferentes fragmentos sociais que tornaria fácil a importação de uma “receita” organizativa qualquer. O chamado para encarar a política organizativa de esquerda como uma “arquitetura de arestas” fala justamente para o desafio de conceber, ao mesmo tempo, a geografia do novo espaço social e a organização das próprias esquerdas sem a suposição de que haveria um fundamento comum, unificante, da vida social – como se um bom discurso, a “linha” certa ou a aposta insistente e abnegada numa fórmula organizativa qualquer fosse “pegar” lá na frente meio que por si mesma.
IHU – Como e o que podemos construir “no terreno” em que estamos hoje?
Gabriel Tupinambá – Esse tipo de pergunta – “o que podemos fazer?” – não acho que seja muito útil. Imagina se alguém vai levar a sério a minha opinião sobre isso (risos). O que podemos construir – bem, vamos olhar o que as pessoas estão construindo nas mais diversas lutas rolando pelo país. Tem construção de bancada coletiva, tem discussão de frente ampla para eleição presidencial, tem “breques” dos apps e a politização das “equipes” de entregadores na viração, tem o reposicionamento do protagonismo indígena nas lutas antiextrativistas, tem a Teia dos Povos dando visibilidade à luta por soberania alimentar, para não falar do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. Enfim, muito se constrói, basta olhar por aí. Não é nesse registro que um livro como o nosso pode contribuir. O que podemos fazer é apontar um problema que a condição periférica traz à tona e que precisamos levar em conta qualquer que seja a resposta que, enquanto militantes, analisando concretamente uma situação, de dentro dela, possamos dar à pergunta do “como e o que” fazer.
O que apontamos é que, dadas as condições do nosso terreno social, simplesmente não há garantias de que muitas construções locais, centradas sobre diferentes pautas, com diferentes objetivos, vão, por si só, gerar uma força política positiva, somando-se umas às outras. Cada vez mais é possível que a soma dos vetores políticos da esquerda seja zero ou mesmo negativa! Então o que fazemos é tentar justificar, através de uma análise histórica e de uma nova teoria da lógica de composição organizacional, por que esse parece ser o caso. O saldo final talvez seja uma espécie de princípio ou máxima do tipo: “a composição entre a tua frente de luta e as demais é um problema organizacional prático, e não uma consequência espontânea da luta” – e mais: é uma tarefa pela qual podemos medir o quão preparados estamos para lidar com o resto do mundo social contemporâneo.
Costura organizacional
Essa tarefa adicional, a preocupação com a conexão entre regiões do espaço político, na verdade não é nada nova: no Manifesto do Partido Comunista, a conexão entre as diferentes frentes de luta proletária e a preocupação com “o movimento como um todo” é justamente o que qualifica a posição do comunista. O que estamos adicionando, ou enfatizando como um aspecto central na nossa conjuntura é que essa atenção ao lugar da parte no todo político não é apenas uma questão de interesse, de princípios ou de teoria: existe uma série de desafios concretos, rachaduras profundas no terreno da luta, que hoje nos obrigam a fazer uma costura organizacional que talvez, antes, pudéssemos tomar como espontânea. Voltamos para a questão da pré-figuração: talvez no contexto da condição periférica, ser comunista não seja mais apenas uma questão temporal – de como antecipar o futuro no presente e levar este na direção do futuro – mas também uma questão de escala, de como projetar “o movimento como um todo” nas preocupações de organizações locais e de como reconstruir um outro mundo social a partir desses fragmentos.
IHU – Falta referencial teórico para a esquerda hoje? Como inspirar a leitura e análise teórica, mas sem apenas para abarrotar a “caixa de ferramentas”?
Edemilson Paraná – Nesse contexto que estamos discutindo, a questão sobre se falta ou não referencial teórico e qual ele seria só pode ser respondida se elaborarmos de algum modo a relação entre teoria e ação política, como estamos propondo. É também isso que vai dizer em que medida estamos carregando ou não ferramentas que não servem para nada e só fazem pesar a nossa caixa. Justamente porque esse não é um debate somente teórico é que a discussão é menos sobre uma teoria em específico e mais sobre o que é teorizar e agir politicamente nessas condições que discutimos. Ou mais difícil ainda: agir politicamente enquanto se teoriza e teorizar enquanto se age politicamente, por meio também da ação política em um terreno como esse.
É por isso que vale reforçar que nosso trabalho aqui não se preocupa – o que, eu reconheço, talvez seja um pouco decepcionante –, tanto com “o que fazer”, “qual o plano?”, quanto com “como fazer”, isto é, como elaborarmos os meios adequados para pensar o que qualquer desenho organizativo que surgir precisará levar em conta de agora em diante. Isso nos leva a apostar na intuição de que o que acontece dentro dos espaços das diferentes organizações militantes pode nos ensinar muito sobre o mundo em que estamos inseridos, seja quando uma ação política tem sucesso, seja quando fracassa. De modo complementar, uma investigação cuidadosa do terreno social e suas transformações nos diz, ela mesma, sobre a natureza de tais organizações bem como sobre algumas das razões fundamentais por trás de suas derrotas e vitórias.
Fonte: IHU
Texto: João Vitor Santos
Data original da publicação: 20/04/2022

